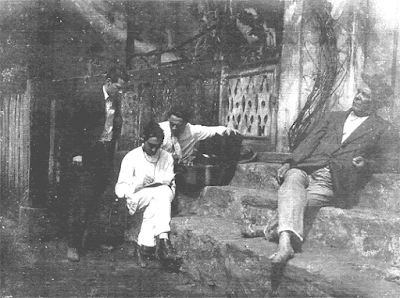 |
| Recebendo a “hora Legal”, pela estação de rádio. 1920. |
Certa manhã de março de 1920, deparo no Imparcial com a notícia de que o governo do Estado do Rio, para comemorar o centenário da Independência do Brasil, iria levantar sua carta geográfica. E que o serviço seria superintendido pelo engenheiro Augusto Guigon, com sede na Marechal Deodoro, em Niterói, já em atividade burocrática. Creio que duas horas depois me fiz anunciar ao superintendente.
O Dr. Guigon, carioca, filho de franceses, era um homem extremamente simpático, educadíssimo e muito compreensivo. Recebeu meu cartão de visita — Luiz Derenzi / Engenheiro Geógrafo / Rua Haddock Lobo etc… — e mandou-me entrar.
— A que devo a visita do jovem colega?
Eu estava com o número do Imparcial à mão e respondi:
— Sou estudante de engenharia. Terminei o terceiro ano e o senhor sabe assim que sou geógrafo. Desejo trabalhar na Comissão Geográfica. Estou habituado à vida do mato.
Fiz-lhe um retrospecto de minha vida. O superintendente tinha o cacoete de afilar o nariz, aliás, um respeitável nariz aquilino. Mostrou-me duas pastas de cartolina e me disse:
— Nesta estão os candidatos do Dr. Veiga, presidente do Estado, e dos deputados. Nesta outra os recomendados do Dr. Frontin, presidente do Clube de Engenharia. Pretendo organizar seis turmas de topografia, cada uma com três engenheiros. Os recomendados são mais de trinta e eu só preciso por enquanto de dezoito.
Eu não me dei por achado e era muito irônico.
— E a pasta de seus candidatos, quantos pretendentes tem?
— Eu não tenho nem posso ter candidatos…
— Mas, doutor, se eu fosse o superintendente teria meus candidatos também. No seu caso, por exemplo, eu, como nunca tive padrinho, gostaria de ser seu recomendado…
O Dr. Guigon riu bondosamente, mandou servir-me café, conversou uns bons minutos, mostrou-me a sala de desenho, cheia de pranchetas, e disse que o pessoal burocrático, desenhistas e escriturários seriam requisitados da Diretoria de Viação e Obras, onde havia excesso. Quanto aos engenheiros de campo, isso dependia da chegada dos instrumentos comprados na América.
Agradeci a gentileza, despedi-me e vi o Dr. Guigon guardar meu cartão na gaveta central de sua mesa.
O calor de março era horrível, de modo que a volta de barca foi muito agradável, mas em terra senti a alta temperatura, por isso tomei o bonde Tijuca e rumei para casa a fim de me despir do terno, paletó, colete e calça, pois assim se andava naquele tempo. E ainda camisa de peito duro, gravata, punhos engomados. Ah! E ceroulas. A cueca ainda não havia chegado da América.
Uns dois meses depois encontrei em casa um telegrama a mim endereçado. Surpresa absoluta: “Vossa Senhoria nomeado. Parabéns. Assinado: Augusto Guigon, superintendente da Carta Geográfica.”
Não esperei o dia seguinte. Fui imediatamente a Niterói. Recebeu-me o Dr. Guigon, rindo, com apertado abraço.
— Você foi o meu candidato, oportunidade que o Dr. Raul Veiga me deu.
Foi a presença de espírito o meu talismã. A Comissão da Carta Geográfica representou para mim uma fase de aventuras, algumas delas pitorescas e divertidas.
Ocupei a função de ajudante técnico da turma localizada em Santo Eduardo, fronteira com o Espírito Santo. Além do chefe de turma, os dois engenheiros civis eram recém-formados e meus contemporâneos: o fluminense Galliez e o diamantinense Antônio Egídio de Almeida, este com pronunciada vocação médica e conhecendo muito a rotina de higiene e enfermagem. E era um excelente coração.
Cada turma de topógrafos portava sua farmácia de emergência: quinino, aspirina, soro antiofídico, tintura de iodo, estojo para injeções. E recebia instruções médicas cuidadosas. O Estado do Rio era famoso pelo impaludismo, na Baixada, tifo no tempo das águas e cobras nas matas e capoeirões.
Santo Eduardo mal era um povoado. Além da estação da Estrada de Ferro Leopoldina e do indefectível Hotel da Estação, suas habitações não passavam de umas vinte casas. A dois quilômetros, na beira do rio Itabapoana, situava-se a vila de Ponte de Itabapoana, já em território do Espírito Santo, pouco maior e com melhor comércio, que incluía uma farmácia, cujo titular era um tipo singular, o desprendido Enéias Mazilli, que, como todo boticário do interior, era obrigado a clinicar.
Antônio Egídio e eu nos fizemos camaradas. A margem fluminense do Itabapoana era povoada de plantadores de cana e de algumas lavouras de café e milho, lá pelas bandas do morro do Coco. A maioria da população era portadora da doença de Chagas. Certa vez um rapaz foi mordido por jararaca. Antônio Egídio e eu aplicamo-lhe o soro antiofídico, em dose maciça, e uma semana depois a vítima se recuperou belamente. Com injeções de mercúrio curamos muitas feridas e alguns impaludados tomaram nossos comprimidos de quinino e a febre passou. Os engenheiros civis, encarregados do levantamento das poligonais, distanciaram-se com o andamento dos trabalhos e mudaram de Santo Eduardo. Ficamos os dois, eu e o auxiliar seccionista, a levantar os cursos secundários.
Outra vez, pelas duas horas da madrugada, bateram forte na porta do hotel; acordamos todos. O proprietário atendeu ao peregrino e ele quis falar com o doutor. O pachorrento hoteleiro, Matos, me chamou e me defrontei com um caboclo alto, espadaúdo, cabelos e barba em desalinho, bastante nervoso.
— Doutor, valha-me… Minha mulher está com dores do parto há três dias e a comadre não deu jeito, sou pobre mas pago, tenho três filhos, todos pequenos. Faz favor…
— Meu amigo, o senhor está enganado, — disse eu, — não sou doutor de curar, eu sou doutor de medir terra…
— Já escutei falar que o senhor cura mordida de cobra, gente de febre. Tem paciência, doutor.
Nessa altura, o homem já estava exaltadíssimo e ameaçador, segurando as rédeas de dois cavalos. O Matos me disse que era melhor eu ir.
— Mas como? Nunca vi mulher dar à luz, não faço a menor idéia.
— Doutor, — ajuntou Matos, — vai com ele e dá um jeito com a parteira.
Mandei fazer café, para ganhar tempo, me vesti devagar, montei a cavalo e fomos pelo caminho afora, beirando o rio. Puxei conversa com o caboclo que ia na frente abrindo caminho, uma senda que mal se podia passar:
— Como está sua mulher, o que a parteira fez agora e desanimou por quê?
— Doutor, a mulher começou a sentir dor há quatro dias. A comadre alisou a barriga dela, primeiro só com a mão, depois com toalha molhada em água bem quente, quando foi ontem mandou ela soprar garrafa, soprou o dia inteiro e nada… E a barriga dela começou a inchar, inchar, e ela gemendo, sem falar nada.
Raciocinei comigo mesmo. A peritonite deve ter dado cabo da coitadinha. Estou salvo. A viagem durou umas duas horas. O dia estava clareando quando ouvimos cantorias. O caboclo me disse, “Estamos chegando”. Eu sabia que na roça o velório se faz com cantoria e pinga. Quando saltamos dos animais fez-se silêncio e uma velha falou:
— Seu Chico, logo que vosmicê saiu, a falecida deixou de gemer e morreu…
Acho que dei graças a Deus pelo desfecho, que o relatório do caboclo já me fazia esperar.
O pobre homem perguntou quanto era meu serviço e quis me acompanhar de volta.
— Não, seu Chico, meus sentimentos. Eu não fiz nada, não cheguei a tempo. Não se incomode, o dia já está claro, volto sozinho, depois o senhor manda buscar o animal com o Matos.
Voltei a galope e me prometi nunca mais bancar o humanitário.
Quando terminei o serviço em Santo Eduardo, fui promovido e recebi uma comissão especial. O Dr. Guigon me levou ao Palácio do Ingá para receber instruções do próprio presidente do Estado. Era um serviço importante e urgente que o Governo me confiava.
A velha pendenga entre os municípios de Santa Maria Madalena e Conceição do Macabu, por contestarem certo trecho de divisa, se reacendera, causando duas mortes: a do presidente da Câmara do primeiro município e a do fiscal de renda do segundo. Os dois municípios estavam em pé de guerra. A política fluminense foi sempre um caldeirão fervente.
Fui comissionado para fazer o levantamento topográfico da zona contestada, com o fim de encontrar uma divisa natural. Eu devia começar meu trabalho levantando o rio Imbé que, depois de descer a serra, serpeja pela baixada alagadiça de Conceição de Macabu-Campos, semeando febres, disenteria e morte. Convencionou-se que o meu estudo começaria na estação de Paciência, do ramal ferroviário que liga Conde Araruama a Santa Maria Madalena, hoje suprimido.
Tomei o trem em Niterói e me toquei para Paciência. A viagem, na Baixada Fluminense, era um flagelo, mormente no verão: calor e poeira. Saí de manhã e, pelas quatro e tanto, o condutor anunciou a estação de Paciência, recolhendo os bilhetes; saltamos, e o trem partiu, em menos de um minuto. A estação não passava de um ponto de lenha para alimentar as “marias-fumaças” da Leopoldina. Não se via uma única casa. De um lado o brejo indefinido do Imbé, do outro umas elevações do terreno, cobertas de capim seco, uns bois pastando e nada mais. Eu, suando como um cavalo de corrida, me senti perdido. O agente da estação, um pobre pária, com mulher e três filhos impaludados, me informou que só o Zezinho, tirador de lenha, poderia me valer, e apontou-me o barraco, na crista do barranco da pequena esplanada. Ele, Zezinho, ao escurecer chegaria, tangendo seu carro de boi carregado de lenha. Sentei-me. O mormaço abafava. Fome e sede. Fumei meio maço de cigarros até ouvir o chiado do carro de duas juntas de bois, abarrotado de lenha. O agente chamou o Zezinho, me apresentou, e eu disse-lhe da missão e da ajuda que necessitava.
O Zezinho, altura média, calçando sandália de couro cru, garruchão em punho, barba rala, quase só no queixo, camisa e calça de riscado, chapéu de palha desabado, riso irônico, mostrando suas gengivas com a falha dos dois caninos. Tipo inteligente e trabalhador, como bom cearense que era.
— Doutor, eu moro num barraco, com minha patroa, sem reboco nem soalho. Só tem a cozinha, meu quarto e a salinha de janta. É casa de pobre mas, porém, o senhor não fica no tempo, se Deus quiser.
De fato, o barraco era o mais primitivo possível. Zezinho tinha alguns recursos e moradia principal perto de Campos. Havia comprado a situação em Paciência, duzentos e tantos alqueires em pastagem, capoeirão e mata, por preço irrisório. Estava tirando lenha para comprar gado e fazer uma invernada. Eu disse que gostaria de acordar cedo e percorrer o rio Imbé a cavalo para me orientar.
— Pois não! Amanhã o senhor terá meu campeiro com montaria para fazer sua viagem.
Subimos a encosta, entramos e ele foi à cozinha avisar da visita.
Sentamos, puxei conversa, disse-lhe da minha vida de família humilde, deixei-o à vontade. Bebemos uns bons tragos de cachaça de alambique de barro, tudo isto sob a luz de um candeeiro fumacento, janelas fechadas, por causa dos pernilongos.
De repente, abriu-se a porta da cozinha e eu que esperava uma nordestina barriguda, relaxada, entra-me uma rapariga de uns vinte anos, vestida de chita alegre, cabelos pretos bem penteados, com dentes perfeitos, rosto ovalado de maçãs rosadas. Não me cumprimentou. Estendeu uma toalha feita de sacos, dois pratos fundos de ágata. Voltou à cozinha, trouxe feijão, arroz e picadinho de carne seca; e se foi embora. Nem uma palavra, nem um olhar, nada.
Jantamos com fome. Uns quinze minutos depois, Zezinho juntou os dois bancos que guarneciam a sala, estendeu um pelego, desculpou-se por não ter travesseiro, deixou-me o candeeiro e se foi dormir. Noite horrível, calor e mosquito. Mas, na manhã seguinte, apareceram dois animais selados e um campeiro. Tomei café com beiju e saí. Preveni que não me esperassem para almoçar. Trotei pelas margens do rio, encontrei duas ou três fazendas abandonadas, comi umas goiabas, chupei uns gomos de cana caiana e de tarde regressei, com a caderneta de campo cheia de croquis e anotações. O cerimonial do jantar foi o mesmo da noite anterior. Minha rotina de trabalho foi progredindo e eu voltava cada vez mais tarde, porque o meu serviço ia avançando todos os dias mais, em direção ao fim da área de estudo. Trabalhei muito. Fiz um levantamento expedito, a bússola, passômetro e barômetro, da região. Só me faltavam uns dois dias de trabalho para findar a tarefa e voltar para o Rio de Janeiro. Chegando em Paciência, surpreendeu-me um facho de luz resplandecente que iluminava mais de um quilômetro de comprimento. Era a locomotiva do trem de lenha que estava carregando suas dez pranchas. Uma festa para o Zezinho. Chegando, aproximei-me do pátio de carga e uns tantos homens, empilhando lenha nas pranchas: fiscal, encarregado, maquinista, guarda-freios, todos a conversar com o Zezinho. Este, ao me ver, gritou:
— Eh, doutor, hoje tem boa janta e cerveja gelada. O trem veio buscar lenha. A comida será depois de toda a lenha carregada. Daqui a umas duas horas.
Eu também fiquei alegre: caras novas, o pessoal da composição traria certamente novidades. Havia dez dias que eu estava naquele ermo danado.
Chegou a hora da janta. Um pequeno banquete que todos os fornecedores de lenha ou dormentes preparavam para as autoridades, captando-lhes a simpatia, para evitar impugnações ou refugo das peças defeituosas. O que me agradou foi a leitoa assada e a cerveja gelada. Zezinho vendia satisfação. No dia seguinte, com o certificado de embarque de lenha, ia entrar no dinheiro. A Leopoldina, no tempo dos ingleses, era boa pagadora. Quando estamos chegando ao fim da comedoria, Zezinho volta-se para mim e diz:
— Doutor, prepare-se que vamos no trem para Campos entregar a lenha.
— Ora, Zezinho. Estou cansado e devo terminar o meu serviço amanhã, se Deus quiser, e pegar o expresso para o Rio depois de amanhã.
— Doutor, são dez e meia da noite. Dentro de vinte minutos vamos embarcar. Arrume-se que o senhor vai comigo. Voltamos depois de amanhã de tarde, no expresso em que o senhor chegou.
— Zezinho, muito obrigado pelo convite. Prefiro ficar.
— Doutor, já disse que o senhor vai comigo. O senhor pensa que eu sou besta, deixar minha mulher bonita, sozinha com o senhor!
Fui a Campos e viajei quatro horas, sentado num monte de lenha; cheguei quase morto de cansaço e com fagulhas de lenha por todo o corpo.
Meus estudos da zona contestada entre os municípios de Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu foram elogiados. O Dr. Guigon queria me promover, pois um dos engenheiros da turma que operava na zona fronteiriça com o Estado de São Paulo se exonerara. Fiquei radiante. Além do aumento de salário, a incomparável melhoria de região, clima mais ameno e as suas cidades inscritas na heráldica nacional, com seus casarões e velhas fazendas, nostálgicas testemunhas do esplendor da monarquia. Mas o que estava preocupando o superintendente da Carta Geográfica era a organização da turma de astronomia de campo, para o levantamento das coordenadas geográficas. Poligonais enormes haviam sido levantadas e, em conseqüência, o serviço de escritório emperrara. O Doutor Guigon queixou-se comigo da recusa de vários técnicos em chefiar tal serviço. Nunca me faltaram audácia e presunção. Até hoje, quase octogenário, sou assim.
— Doutor, caso o senhor queira, eu organizo a turma.
— Você se julga capaz, Derenzi! Está autorizado.
Havia um jovem de muito talento e cultura, conhecido por sua mordacidade e pela maneira hilariante com que criticava alguns professores e seus métodos de ensino. Era exímio jogador de xadrez. Não liderava grupos. Pouco frequentava a Escola e, nela, distinguia apenas dois colegas: o Carlos Lacombe e o Francisco Xavier Kulnig, este, por sinal, ex-anchietano e que, em certa ocasião, nos dera, en passant, aulas de Álgebra Superior e tinha como hobby tocar violino. Eu nutria respeito por ele e mantínhamos uma certa intimidade. Era ele, nessa época, assistente do professor Morize, no Observatório Nacional. Foi por intermédio de Kulnig que conheci o turbulento e respeitado jovem mordaz, que não fazia exames de promoção e que pouco aparecia na Escola, quase só para jogar xadrez. Vez por outra, o esplêndido Kulnig convidava a mim e ao parceiro de jogo para visitarmos, à noite, o antigo observatório do morro do Castelo. O jovem e irrequieto companheiro, o crítico ferino, uma das maiores inteligências que conheci, chamava-se Gustavo Corção Braga. Moramos no mesmo quarteirão da rua Haddock Lobo, lado par. Sua mãe dirigia uma escola modelar para meninas, o Colégio Corção. Gustavo simpatizou comigo, talvez pela minha sem-cerimônia em perguntar tudo que eu não sabia. Seu raciocínio rápido, lógico, me estimulava a inteligência e me fazia compreender os mais intrincados problemas de Cálculo, Mecânica e Astronomia. Excelente observador da esfera celeste, tinha intimidade com todo aparelho do observatório. Corção, na minha geração, recendia a gênio. Seus conhecimentos humanísticos, principalmente filosóficos, históricos e literários, faziam dele um excelente conversador. Parnasiano e realista, se assim se podia definir sua verve polêmica, tinha sempre uma blague de Eça de Queiroz ou um soneto de Antero de Quental para ilustrar sua conversa encantadora. Era agnóstico, com tendências para o budismo. Sua moral era rígida e intransigente. Pobre como um franciscano, mas rico de idealismo.
Quando ousei aceitar a tarefa que o Dr. Guigon me confiou, em meu cérebro polarizou-se a imagem de Corção. Via-o sacudindo os ombros e, com dois dedos, sacar cigarros do bolsinho do paletó.
Encontrei Corção jogando com o Cavalcanti, aquele que, quando sentia o xeque-mate, recitava o verso de Racine:
Cependant la nuit s’approche…
Esperei que Corção desmantelasse o ataque do Cavalcanti, chamei-o para um canto e disse-lhe:
— Tenho um emprego para você. Novecentos e sessenta mil réis por mês e trinta de diárias corridas.
— Você está louco, isso é fantasia!
Expliquei-lhe o sentido e o porquê de minha oferta. Caminhamos para as barcas de Niterói e, durante a travessia, já tínhamos engendrado todo o esquema da turma para o levantamento das coordenadas.
Anunciei-me ao superintendente e, entrando em seu gabinete, fiz a apresentação do Corção. Este expôs sucintamente o plano. Em menos de vinte minutos estava encerrado.
— Vou baixar a portaria criando a comissão e nomeando os seus membros. Derenzi, chefe, Gustavo Corção Braga, operador, e José Gayoso Neves, rádio-telegrafista.
— Perdão, doutor, — corrigi, — o chefe deve ser o Corção porque, além de saber mais, é professor livre de astronomia.
Corção olhou-me grato e o Dr. Guigon disse-me: “Belo gesto o seu…”
Inauguramos pela primeira vez no Brasil, e quiçá no continente, o levantamento de coordenadas geográficas sem a clássica bateria de cronômetros aferidos nos observatórios astronômicos, para se consultar a hora verdadeira em cada local e compará-la com a obtida por observação, que nada mais é que a longitude procurada!
Apesar de os aparelhos de rádio estarem na infância, isto em 1920, com o receptor de galena problemático e enervante, nós operamos e observamos com um único cronômetro, de fabricação Kulberg, e um receptor de sinais Morse, construído pelo próprio Corção, pioneiro, também, nessa atividade. O Observatório Nacional todos os dias transmitia, e creio que ainda transmite, pelo telégrafo, às vinte horas, a hora exata do Rio de Janeiro e a previsão do tempo, com a finalidade de orientar os navios. A transmissão começa minutos antes, como que a prevenir os interessados e, a partir das vinte horas, transmite uma série de enes –., –., em Morse, em que o ponto é o segundo exato.
O Gayoso determinava a marcha do nosso cronômetro e anotava a diferença entre a hora transmitida e a que o cronômetro indicava. À noite, o Corção fazia as observações de um par de estrelas, tanto quanto possível à mesma altura do horizonte, a este e a oeste; depois, por segurança, repetia cinco vezes e assim se calculava a longitude com a devida aproximação. A determinação da latitude é operação muito mais simples e independe da comparação dos tempos. Com isto se deduz que o nosso trabalho dependia das condições atmosféricas, o que, em linguagem astronômica, significa ter céu aberto a leste e a oeste. Isto nos obrigava, portanto, à vigília noturna, à espera de oportunidade feliz. Às vezes passávamos semanas sem céu. A expectativa era agradável para nós, moços. Ficávamos a conversar, a fazer planos, a escrever cartas; e, quando as tardes se tornavam enevoadas, fazíamos visitas aos novos conhecidos, frequentávamos bares e jogávamos xadrez. Dessas andanças, gostaria de registrar alguns episódios marcantes.
A primeira operação que nos foi pedida tinha por meta determinar as coordenadas do ponto singular, o encontro dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Isto ocorre na confluência dos córregos Negro e São João, formadores do rio Itabapoana, extremo norte do Estado do Rio, e o sítio denominado fazenda dos Três Estados, propriedade então do velho coronel Juca Brabo — José Fernando Lanes. Tomamos o expresso da Leopoldina, pela manhã, e ao anoitecer desembarcamos em Faria Lemos, simpática vila próxima a Carangola, de onde devíamos seguir a cavalo para o nosso destino. Chegamos com chuva e tempo nada prometedor. Ficamos uns três dias nos amofinando no Hotel Central, na praça, fundos da estação. Para nos distrair jogávamos xadrez de carteira de bolso. O Guimarães, hoteleiro, nos observando, disse que logo ao lado o farmacêutico Caio era campeão local, tendo derrotado todos os viajantes que com ele se mediram, até aquela data, e que por ele estava autorizado a convidar qualquer um que jogasse a procurá-lo. Fomos. Três casas adiante, situava-se a farmácia Faria Lemos, casa baixa, limpa. Atingia-se a parte residencial por um corredor escassamente iluminado. O Guimarães gritou: “Caio, visitas para jogar!”
Entramos. A sala mobiliada confortavelmente com peças de jacarandá. Jarras de porcelana e, junto ao sofá, o jogo de xadrez sobre amplo tabuleiro. O proprietário, negro baiano, diplomado, paletó de alpaca, gravata, entradas ameaçando a cabeleira grisalha, fisionomia alegre e acolhedora. Feitas as apresentações, sorte tirada, Corção ficou com as pretas e o boticário com as brancas, e fez a saída clássica: peão quatro do rei. A partida foi rápida, em quinze lances o hospedeiro ganhou e relembrou outras vitórias mais difíceis. Corção justificou-se que não estava habituado a jogar diante do tabuleiro. Preferia jogar distante, de costas, olhando para fora, ordenando os lances.
— O Derenzi faz meus lances e vamos jogar outra.
O preto riu piedosamente e deu o primeiro lance, Corção respondeu lá da janela, olhando para o jardim, e eu cumpri a ordem. Ao décimo segundo ou décimo terceiro lance, o tabuleiro já aliviado de várias peças, Corção recapitula todas as jogadas da partida já efetuadas, toma posição exata e me ordena um lance de cavalo e diz ao parceiro:
— Cuidado! Creio que o senhor não tem saída, levará “mate” em três lances.
E assim foi! O negro, desculpando-se com o hoteleiro Guimarães, que ficou para assistir, exclama:
— Isto é jogo às traições. Eu quero ver de frente, como a primeira.
E o Corção:
— Está bem, então vamos.
Derrotou o adversário no décimo lance, com perda de apenas um bispo e um cavalo.
Tomamos um delicioso chá com pão-de-ló, servido pela simpática e amável mulata, esposa do boticário enxadrista. Corção foi terrível.
O tempo foi melhorando e aprazamos a viagem para a fazenda dos Três Estados. Pedimos ao Guimarães que nos providenciasse quatro montarias. Levávamos como auxiliar inútil o Melo, um jubilado da Escola Militar, protegido do presidente, um cargueiro para a bagagem e um almocreve, como ainda se chamava o muladeiro acompanhante, conhecedor dos caminhos.
Saímos cedo, ao despontar do dia. O Guimarães nos confortou:
— Os animais são bons, mansos, o caminho é este, — e apontou. — Não há errada: vão seguindo sempre pelo caminho mais limpo, contando as cruzes à beira da estrada. São mais ou menos umas trinta, vinte até Santa Clara. Varre e Sai está logo perto e com mais umas dez vocês chegam lá. A última cruz é muito velha, está na cabeça da ponte do rio São José. É a entrada da fazenda. Lembranças ao coronel que estou mandando…
Gayoso e Corção ficaram com os olhos arregalados. Ignoravam que no interior se matava a três por dois e que se assinalava o local do crime por cruzes fincadas ao lado da estrada, e que os caminhantes que conheceram as vítimas costumam depositar ora um seixo, ora um ramo de mato ou flor, ao pé do singelo marco. Geralmente, durante a Semana Santa ou véspera de Finados, amigos ou parentes acendem velas em intenção da alma do defunto. São também para espantar as almas penadas, que às vezes assombram os viajantes, à noite. Creio que essa praxe desapareceu. Tinha lá seu piedoso misticismo.
Comemos um feijão ruim em Santa Clara, numa pequena colina, talvez quinze ou vinte casas embarreadas. O caminho, num sobe e desce danado, ou bordejava bonitos cafezais ou cortava mata frondosa. Num descampado, onde chegamos, pelas três e meia da tarde, Gayoso e Corção se queixando das esfoladuras nas nádegas, encontramos um rancho de palha, de bom tamanho, só com a cobertura e, no oitão, uma tabuleta com letreiro bem visível e o S escrito ao contrário, com este aviso: “Varre e Sahe”. Os tropeiros, que nas safras de café ou milho trafegavam por aquelas bandas, haviam erguido o rancho para pernoite ou descanso. E para prevenirem os mal-educados, pregaram a tabuleta-aviso. Hoje, naqueles sítios, existem duas cidades.
Finalmente, ao escurecer, descendo para um vale meio apertado, ao lado direito, vimos uma cruz baixa, sobre um monte de seixos rolados, já ornada de musgo e melão de São Caetano; e deparamos com a porteira, que defendia a ponte sobre as águas velozes e rorejantes. Era o Itabapoana. Estávamos na lendária fazenda dos Três Estados.
A sede, um rústico chalé, com sacada florida no oitão, no fundo de pequena esplanada, vertendo para a corredeira do rio, à esquerda de quem olha, se nos apresentou acolhedora e amiga. Apeamos. Um cachorrinho ladrando assustado nos poupou o “Oh de casa!”. Uma velha mulata, surpresa, assomou à porta. Eu tomei a dianteira e perguntei pelo coronel.
— Ele não demora não senhor. Está acabando a puxada da reza e agorinha mesmo está aí. Podem entrar.
Preferimos esperar sobre o alpendre que guarnecia a porta e observar o ambiente. Corção olhou logo para o céu e descobriu sua estrela predileta, Archerá.
— O tempo está prometendo, — disse ele, acariciando o queixo, gesto muito seu.
O Melo, inconveniente como de costume, disse qualquer bobagem, Gayoso queixou-se das esfoladuras e do peso das pernas. Viajara todo o tempo em cavalgadura pequena, com suas enormes pernas de rapaz de um metro e oitenta de altura. Lembro-me que de vez em quando se arrastavam nos atoleiros que apareciam em nosso caminho.
O coronel não demorou. Estatura média, gordo, fisionomia aberta, comunicativo, se aproximou, exclamando:
— A que devo a honra de tantos cavaleiros distintos?
Tomei a dianteira e resumi nossa identidade, exibindo-lhe dois ofícios: um do prefeito de Porciúncula, Dr. Alfredo Calvet, outro da Secretaria do Governo.
— José Fernando Lanes, às ordens de vossas senhorias. Vamos entrar.
Providenciou junto à caseira que cuidasse da janta, acendeu o lampião belga que pendia do centro do teto da sala principal. O ambiente era acolhedor e confortável, o mobiliário típico das velhas fazendas. O coronel, à medida que ia abrindo janelas, riscando fósforos, acendendo mais lampiões, ia indagando de nossa viagem, encarecendo nosso sacrifício, querendo notícias da política e dos festejos que se preparavam para a próxima visita do rei Alberto da Bélgica. Ganhamos simpatia por esse fidalgo e rústico lavrador de terras distantes, pela sua lhaneza e cordialidade. Era homem beirando os setenta anos, com aneurisma da aorta, já visível pelo alargamento da gola da camisa. Mandou recolher nossas montarias, acomodou-nos em dois quartos, mostrou-nos o andar térreo da casa, desculpou-se por não ter banheiro, porque todos preferiam banhar-se nas águas dos rios que confluíam a cem metros do fundo da casa. Lamentou ser viúvo há dois anos, lembrando comovido as virtudes de sua defunta esposa, de família campista muito honrada, prima do senador Nilo Peçanha. Sua filha Lupércia estudava em Petrópolis, no Sion, “com muito proveito”. Falava francês e lia romances. Ele só cursara a escola primária e teve o mundo como professor.
— Agora, senhores, podem se preparar, o jantar ainda demora uma meia hora. Se quiserem tomar banho de rio, aqui estão as toalhas; podem levar a lanterna. Não há perigo algum, eu os acompanho até o ponto.
Pôs uma garrafa de pinga e um litro de vermute sobre a mesa, dizendo que não nos acompanhava no grogue porque deixara de beber há muitos anos, por recomendação médica.
Tomamos banho de rio, mudamos a roupa, calçamos chinelos. O coronel mandou servir o jantar. A pêndula bateu oito horas: canja, pernil de porco, feijão, arroz, angu e quiabo. Banana frita e café. Foi para nós um opíparo banquete. Corção prendeu a atenção do coronel com sua verve prodigiosa e concluindo me segredou:
— Que homem inteligente e interessante.
Estávamos cansados, bem alimentados e com sono, quando o Melo (o Melo era das arábias), com ar curioso, entrou na conversa:
— Coronel, o senhor é muito valente por ter o apelido de Juca Brabo?
Nós ficamos decepcionados e, sentado de frente para o imprudente, não lhe dei uma canelada porque estava de chinelo. Mas cutuquei-lhe forte o pé.
— Quando vim romper este sertão, — respondeu o coronel, — a lei era a do mais forte. O banditismo e a tocaia eram coisas de rotina. Com a libertação dos escravos vivia-se perigosamente. Fui muito atacado de surpresa e reagi com violência e coragem. A última está testemunhada por aquela cruz na cabeça da ponte. Foi a punhal. Mas agora estou velho e já amansei a zona. O senhor pode dormir tranqüilo, porque Juca Brabo já morreu.
Demoramo-nos uma quinzena na fazenda do destemido José Lanes. O tempo nos foi adverso mas não amofinamos. Nosso hospedeiro providenciou tudo o que era possível para nos ser agradável. Lembrou sua chegada, moço, lutador, a tentar a sorte. Uma vida de pioneirismo, seus amores, seu casamento, o esplendor da alta do café, a doença e morte da esposa, com linguagem fluente de narrador e com certo lirismo agradável de se ouvir.
— Os senhores querem conhecer a parte do sobrado de nossa casa? Nunca pessoa estranha subiu lá em cima. Vou mostrar-lhes, em consideração à importância, para mim, da oportunidade que o acaso me ofereceu.
Subimos a escada reta, com dezoito degraus, que findava numa saleta fresca, ornada de samambaias viçosas. Abriu à chave o cômodo principal e fomos surpreendidos por uma alcova em absoluto desalinho. Sobre a cômoda luzia uma lâmpada de azeite, por baixo de uma imagem de Nossa Senhora policromada de azul, com estrelas de ouro, escapulário branco e manto escarlate. Sobre a poltrona pendia um peignoir amarfanhado. O leito do casal tinha a aparência de ter sido palco de luta violenta. Muitos vasos de flores viçosas, tapetes, cortinas, janelas com venezianas. Ao entrarmos o coronel se ajoelhou, benzeu-se e rezou. Depois disse:
— Este é o meu santuário; está como no instante que Lupércia faleceu. Aqui rezo todos os dias por sua alma.
O coronel Juca Lanes nos aconselhou a voltarmos via Carangola.
— A distância regula, a estrada é melhor, a cidade é movimentada, tem salão de barbeiro, hotel com boa comida, muitos viajantes.
Aceitamos a sugestão. Agradecemos a acolhida cavalheiresca e em ótimas montarias rumamos para Carangola. A viagem foi boa. Chegamos menos cansados. O hotel era simpático, com refeitório em bom estilo, pequeno bar. Havia um grupo de intelectuais, todos solteiros, que moravam no hotel e exerciam suas atividades na cidade. Dr. Benjamim Ferreira, médico com especialização em Hamburgo, Dr. Xenofonte, advogado de muito prestígio com faro “sherloquiano”. Corria muito dinheiro na praça. Política em ebulição. Era presidente da Câmara Municipal o médico Dr. Jonas Faria Castro. Não havia prefeitura. Estava anunciada para o próximo domingo uma grande festa, a inauguração de uma cerâmica de refratários e o lançamento da pedra fundamental da Santa Casa da cidade, antecedida de quermesse, banquete e baile na Câmara Municipal. Era quinta-feira, e nos dispusemos a esperar a festividade.
Barbeados, cabelos aparados, roupa passada a ferro, bebericamos no pequeno bar ao lado do grupo seleto, já descrito. Nasceu um diálogo espontâneo, trocamos brindes e meia hora depois estávamos amigos. Corção em pouco tempo liderou a conversa. Homenageamo-nos com exagero e depois aproximou-se o consagrado poeta Belmiro Braga, convidado de honra para proferir uma conferência sobre a caridade, no sábado. A noitada foi esplêndida. Na tarde seguinte recebemos, nominalmente, convites impressos para as festividades fechadas. Uma gentileza do Dr. Gaide.
A quermesse teve uma freqüência enorme. Todas as prendas foram arrematadas por alto preço. Pudera! A anunciante, bela jovem descontraída, com trejeitos de comediante, filha do presidente da Câmara, polarizava todas as atenções e era cortejada por todos nós. Morria o certame por falta de prendas quando, inopinadamente, ela arranca um cravo murcho que lhe ornamentava a cabeça. Aspira-o, beija-o e, mordendo-o com os dentes, anuncia:
— Quanto me dão por este cravo?
Um mil réis, dois mil réis, três, cinco, demorou nesse lance. Ela beijou novamente a flor e exclamou:
— É pouco, quero mais, quem dá? Ganha um beijo na testa quem der o maior lance!
As ofertas alcançaram os dez mil, quantia apreciável em relação a uma saca de café que valia dezoito mil réis. Eu me animei, já tinha bebido vários quentões, levantei o braço e ofereci cem mil réis. Todos se voltaram para mim atônitos. Palmas, a banda de música atacou o dobrado “Nós somos da pátria a guarda, fiéis soldados, por ela amada…”
Trinta e três anos depois voltei a Carangola, para assistir a uma exposição de gado, acompanhado pelo saudoso amigo Joubert de Barros, meu companheiro do primeiro escalão e do também saudoso governador do Espírito Santo, Jones dos Santos Neves. Entre os atrativos do certame, havia um pavilhão de arte colonial, armado com muito gosto e com riquíssimas peças expostas. Joubert e eu fomos percorrê-lo. O ambiente era um círculo de grande raio, dividido em boxes, com as peças etiquetadas e com os nomes dos proprietários. Comecei a comentar o valor e significado dos objetos. Lá pelas tantas um grupo nos acompanhava e eu me transformara em explicador. Terminada a visita, saía-se por um pequeno vestíbulo onde uma senhora simpática, de muita classe, e grisalha, colhia as impressões e assinaturas dos visitantes. Joubert ordena-me:
— Derenzi, escreva aí a nossa impressão…
Sentei-me, recolhi-me e veio-me à lembrança o dia da pedra fundamental da Santa Casa, do leilão, da felicidade de que gozara em arrematar o cravo de tão deliciosa criatura. Assinei e a senhora, guardiã do livro, pediu licença e leu. Foi se emocionando e, ao terminar, agradecendo, me abraça e diz:
— Dr. Derenzi, eu sou a leiloeira do cravo…
Uma das grandes vergonhas da política administrativa nacional foram as questões lindeiras entre os Estados brasileiros. Assumiram em determinada época aspectos bélicos. Entre os Estados de Minas e Espírito Santo, havia recíprocas reivindicações territoriais na chamada Zona da Mata. Por um rasgo de bom senso, gesto raro, entraram em acordo e escolheram uma linha divisória diagonal, ligando certos pontos pré-fixados. Para tanto, tornou-se necessário conhecimento cartográfico da região e suas implicações. Nossa turma de astronomia de campo foi transformada em Comissão Mista de Limites Rio-Minas, tendo o Estado de Minas Gerais agregado à nossa entidade o saudoso, competente e compreensivo engenheiro Benedito Quintino dos Santos. Belo homem, física e moralmente definido.
Por isso, da fazenda dos Três Estados nos transferimos para Tombos de Carangola, onde se situaria um marco natural: o vertedouro da primeira cachoeira do rio Carangola, afluente importante do rio Itaperuna, tributário do Paraíba. Foi uma agradável permanência de uma quinzena de outubro, cujo tempo impertinente nos atrasou bastante. O lugarejo era distrito de Carangola, com um próspero negociante, Gastão, educado e amável, seu irmão, jovem médico, Galhardo, com vocação pronunciada de genticista, um fazendeiro bonachão, chefe político, coronel Quintão, pequenos proprietários, muitas moças casadoiras. Éramos todos jovens sem compromisso. Podíamos flertar e dançar nos assustados, à vontade. Corção nutria um teórico romance que lhe parecia impossível e que só se materializava em belíssimos decassílabos parnasianos que eu tinha o privilégio de ouvir. As moças mais ousadas concertaram um piquenique na fazenda Água Santa, distante umas duas horas a cavalo. O ponto de encontro era, ao lado do hotel, na residência de determinada senhorita cujo irmãozinho, criatura de uns oito anos, tivera meningite. Enquanto aguardávamos as retardatárias (há moças pontuais?), tomávamos café com broas de milho. Bem gostosas elas eram. A enfermiça criaturinha, dirigindo-se à avó, começou a berrar epilepticamente:
— Vovó, quero falar! Vovó, quero falar! — em tom crescente e perturbador, e nada da avozinha lhe dar licença.
Corção interveio conciliadoramente:
— Dona, deixa o menino falar, que é que tem. É uma pobre criança.
A velha cedeu.
— Fala, Zezinho, fala, meu filho.
E o menino esbravejou:
— Quero xingar aquele homem feio… — E sambava sobre seus pés descalços. Gustavo Corção, com seu riso de sacudir ombros, disse:
— Xinga, Zezinho, pode xingar para aliviar. Vamos lá.
— Feio, merda, filho-da-puta, vai embora…
As retardatárias demoraram, a manhã escureceu e a chuva caiu. Não houve o passeio nem o piquenique.
Do primeiro tombo da cachoeira Carangola deveria seguir uma linha reta até a interseção do paralelo 21 com a serra do Serrote e deste ponto descer pelo córrego da Conceição até a cachoeira do Peitudo. Determinar o paralelo 21 foi o remate, aliás um tanto divertido, da nossa comissão.
Abarracamo-nos em Porciúncula, cidade criada pelo engenheiro Raul Veiga, para acolher a sede de Itaperuna, cidade que se tornara inóspita pela incidência do impaludismo e do tifo. Foi projeto de Campofiorito, hábil arquiteto italiano, lotado na Diretoria de Obras do Estado do Rio, criatura a quem todos queríamos bem. Homem modesto, simples. Quando se pretendeu construir o Palácio Tiradentes, a obra foi confiada ao genro do Dr. Arnulfo Azevedo, engenheiro militar. Era de dimensões exageradas para um jovem sem experiência. Quem projetou a obra monumental, com detalhes e especificações, foi o desconhecido e amado Campofiorito, e o feliz mandatário assinou. Campofiorito, com sua proverbial habilidade, projetou o festão que circunda a nascença da cúpula, com seu nome de desenhos de flores variadas que se repetiam seguidamente. Creio que sou a única testemunha desse episódio em que um talento de pobre serviu de escada para um rico fútil.
A praça municipal, a Prefeitura, o Grupo Escolar Orsina Veiga são projetos, como tantos, executados nas cidades do interior no período governamental de Raul Veiga.
Em Porciúncula nossa estada foi esplêndida. O prefeito era nosso contemporâneo, Alfredo Calvet, engenheiro geógrafo de boa cepa familiar, que trancara sua matrícula, por motivos de saúde, para servir à política de Raul Fernandes, da facção dominante, seu contraparente. Raul Fernandes, jurista de prol, foi figura marcante no cenário intelectual e política da primeira e da segunda república.
Como ia dizendo, nessa risonha cidade nascente, circundada de latifúndios pertencentes a ricos agricultores, permanecemos boa temporada pois, além de coordenadas geográficas, locamos poligonais consideráveis. Entre os fazendeiros ricos, dois interferiram nos trabalhos. O coronel Custódio Fernandes Lanes, primo do coronel Juca Brabo, e Carlos Frederico da Silva, português “casca-grossa”, genro e herdeiro da matrona Dona Emília, proprietária de uma sesmaria de terra tão extensa que a Leopoldina construiu nela uma parada, que recebeu o seu nome. Esta fazenda, o português feliz que a havia herdado denominou Moto Contínuo: quando terminava a safra de café entrava a de cana e, como fundo de resistência, sua usina de laticínios industrializava bons litros diários, ordenhados em rebanho próprio. Como monumentos arquitetônicos, além do penhasco imponente e altaneiro, coroado de mata virgem, geograficamente denominado de Itaperuna, existia o edifício sede, casarão em alvenaria, com 32 peças, além do porão de dois metros de pé direito, usado para vários fins. Protegia a soberba moradia um pelotão de palmeiras imperiais, enquadrando uma horta-pomar variadíssima. Era percorrida pelo córrego da Perdição, manancial nomeado pelo memorial descritivo da fronteira pactuada entre os Estados em lide.
O paralelo, como linha imaginária, só poderia ser estabelecido por sucessivas determinações. Mas tivemos sorte. A velha carta geográfica do Estado do Rio situava o círculo celestial nas proximidades de Porciúncula. Feita a primeira tentativa, os cálculos nos diziam que estávamos a onze quilômetros e poucos metros ao norte. Eu parti, junto com o integrante mineiro, engenheiro Quintino, seguindo o azimute norte-sul verdadeiro e, por montes, vales, aguadas e matas, cravei o piquete desejado, depois de uns cinco dias de serviço penoso, justamente um pouco ao sul da estação Dona Emília, na garganta que desce para a parada de Antônio Prado. Agora, o andamento final do serviço consistia em retificar, experimentalmente, o paralelo 21 e, com seu azimute, prolongá-lo ao cume da serra do Serrote, procurar as nascentes do córrego da Perdição e segui-lo até a cachoeira do Peitudo, acidente do curso do rio Pomba, muito a sudeste, no território do município de Pirapitinga.
Precisávamos acampar em Dona Emília, na propriedade do gordo Carlos Frederico, o felizardo proprietário da Moto Contínuo. Munidos da apresentação oficial e de carta do prefeito Calvet, tomamos o expresso de Carangola via Entre-Rios, pela manhã. Vinte minutos depois, saltamos com nossas valises, o cronômetro Kulberg, o teodolito, a estaçãozinha de rádio, balizas, etc. Mal desembarcamos, o trem se pôs em marcha, batendo caixa para vencer a rampa e as curvas do divisor de Antônio Prado. Da plataforma de Dona Emília à sede da fazenda, a distância era um bom quilômetro e nós com aquele mundo de pertences! Perguntei ao agente da estação pelo Carlos Frederico. Ele nos respondeu:
— Aqui na usina de leite ainda não chegou. Deve estar em casa, deixem a bagagem e depois ele pode mandar a charrete buscar.
— É, — disse Corção, — vamos ver se tomamos um café.
Caminhamos sob sol inclemente, debaixo de um céu sem nuvens, subindo, descendo, virando aquele infinito quilômetro e meio até o patamar alpendrado da Moto Contínuo. Puxei o cordão da sineta e quem nos veio atender foi o próprio Carlos Frederico.
— Bom dia, é o Sr. Carlos Frederico?
— Sim, senhor, mas todos me chamam de major.
— Major, — disse eu, as iniciativas eram sempre minhas, — trazemos recomendações do presidente do Estado e do prefeito para o senhor. Queira ler, por obséquio… — e apresentei-lhe as credenciais. O nosso homem foi lá dentro, fechou a porta, trouxe seus óculos e soletrou a bela redação oficial que fazia cívicos apelos “ao ilustre correligionário” e, em seguida à citação de nossos nomes, invocava “toda a fidalguia fluminense, para que os referidos senhores pudessem executar tão importante trabalho…” A leitura dos documentos levou seguramente dez minutos. Ele levantou os olhos e nos identificou pessoalmente. Disse que pertencia ao partido do Governo e era muito amigo do Dr. Calvet, mas nada de nos mandar entrar. É que não nos podia hospedar, porque sua filha, interna no Colégio Sacré Coeur, estava para chegar do Rio, e que nós devíamos compreender: rapazes solteiros, não ficava bem. Mas ia mandar desocupar o paiol, dar uma varrida boa e nos deixar usá-lo. Nesse entrecho, íamos ficando cada vez mais decepcionados, rogando pragas mentalmente, capazes de fulminar o gentilíssimo correligionário do partido dominante.
Gustavo Corção olhou para o paiol que nos fora apontado, virou-se com falso morgado e falou:
— Major, sou o chefe da Comissão e como tal agradeço a sua gentileza. Vamos voltar para Porciúncula, apanhar nossas barracas de lona e agradeceríamos se permitisse que as armássemos na beira do córrego. As barracas são mais frescas. Passe muito bem, major.
E nos pusemos em marcha. Felizmente o Melo ficara no hotel. Fomos à estação indagar do agente as providências cabíveis. O relógio marcava onze e tanto. Condução não havia. Só o expresso do Rio, que, se não trouxesse atraso, deveria passar às cinco e pouco. Não havia escala para trem de carga. Dona Emília era parada privativa para servir à fazenda. Nenhuma venda onde pudéssemos comprar uma caixa de fósforos sequer. Porciúncula estava a onze quilômetros. Retrocedendo, havia a estação Antônio Prado, a quatro quilômetros, logo na virada da garganta, com casa de negócios. A fome nos maltratava o estômago. A boca seca, de tanto fumar. A situação era crítica e insolúvel, aparentemente. Gustavo decidiu:
— Vamos a Antônio Prado, com uma hora chegaremos lá, comemos alguma coisa e esperamos o trem.
Caminhar pelo leito da estrada de ferro, com passos de abertura diferente, pisando nos dormentes, é um dos maiores sacrifícios a que se pode submeter um bípede pensante. O sol no zênite, o calor aumentando, a monotonia que nos acompanhava, em somatório, tornaram-se duas horas infernais, das mais sofridas de nossa vida. Chegamos derreados, pernas trêmulas, os corpos banhados de suor, todo o humor perdido. Felizmente, em frente à casa de negócios, havia a maior mangueira que jamais vi. Junto ao tronco, uns bancos rústicos e estacas, lustradas pela esfrega das bestas que ali estacionavam. Era o abrigo natural das tropas que alimentava a estação, com as colheitas circunvizinhas de café ensacado.
Descansamos, bebemos água mineral morna, comemos sardinha com cebola e farinha de mandioca, com papel de embrulho à guisa de prato. As referências ao major Carlos Frederico eram contristadoras: miserável, imprestável, mau vizinho e impiedoso carrasco para a família: a mulher e a filha única. O negociante, quando nos identificamos, mostrou saber a que vínhamos. Ofereceu-nos um café sofrível, foi amável. O trem, felizmente, veio à hora. Embarcamos e pedimos ao condutor que desse uma parada em Dona Emília, a tempo de recolhermos nossa bagagem.
A alegria do término do curso de engenharia, para mim, foi agridoce. Apavorei-me com a responsabilidade. Senti-me suspenso no ar. Nem mais irresponsável como estudante nem cônscio de minhas prerrogativas de diplomado. Sabia topografia e um pouco da rotina de construção de estradas de ferro, por atavismo familiar. Deixei-me ficar no Rio e dois episódios aconteceram, de naturezas bem diferentes. Um sentimental e surpreendente. O outro, mais realista, encarado com justeza crua, o que equivaleu a dar um pontapé na fortuna, sem a menor dúvida.
Vou registrá-los. O primeiro foi surpreendente pelo inesperado. Os pais de um colega muito querido, o de melhor situação financeira, como bom italiano que era e membro da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória, mandou rezar missa de ação de graças pelo término do nosso curso, de seu filho e meu, seguida de almoço servido no caramanchão de seu palacete, pela Confeitaria Colombo. Suas filhas se apresentaram com alegres toaletes de passeio, sem afetação mas elegantes, principalmente a mais velha, bem educada e de uma beleza napolitana. O almoço foi demorado e os vinhos italianos servidos conforme as iguarias. Após a sobremesa, sob pretextos vários, foram se retirando os membros da família e ficamos só três: o anfitrião, sua filha mais velha e eu, o homenageado. Falou o ancião:
— Derenzi, o que você pretende fazer agora de canudo e anel?
— Não sei ainda. Vou para minha terra pensar e amadurecer.
— Você é muito desembaraçado. Os dois anos de Carta Geográfica lhe serviram muito. O Espírito Santo é muito pequeno e atrasado. Eu tenho muitas casas velhas. Você e meu filho façam sociedade, a colônia é grande, eu tenho influência, só há uma firma conceituada, Januzzi, eu vejo boa perspectiva.
— Não há dúvida, porém eu não tenho capital…
— Ora! Isto não é embaraço. Casa com Rosária que está doidinha por você e o capital está feito…
Meu pensamento, quando ele falou em casamento, voou para a serra de Santa Teresa, lá no Espírito Santo, onde eu santificava uma criatura cismarenta e retraída.
Não me lembro como me despedi e consegui chegar à rua Maranguape, onde morava.
Edson Passos viera de Uberaba, chamado pelo professor Sampaio Correia, que lhe conseguira emprego com o Dr. Cotrim, para trabalhar na Companhia Henrique Lage que, além de estaleiro naval e de sua frota mercante, os famosos “Itas”, tinha por arrendamento a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, em Santa Catarina, explorava promissoras minas de carvão, em Criciúma, e pretendia construir o porto de Imbituba.
Edson Passos, que fora meu companheiro de quarto, sabia que eu sempre morei em amplos cômodos, notadamente nos últimos anos de estudante, e quando vinha ao Rio era meu hóspede. Tinha como objetivos, três alternativas: ser engenheiro da Prefeitura do Distrito Federal, ser nomeado pelo Ministério da Agricultura para a comissão de compra de gado zebu, do Industão, ou trabalhar em ferrovia. Eram promessas de seu paraninfo, professor Sampaio Correia, deputado federal. Aqui chegado, no entretempo das conversações com a Lage, por intermédio do Dr. Cotrim, seu superintendente, opta pela Prefeitura, que lhe acena com maiores oportunidades. Mas já estava compromissado para assumir a chefia das organizações Lage em Criciúma. E apela para mim. Fui seduzido. Levou-me ao Cotrim, justificou-se, e aceitei o encargo. Pedi uma semana para ir a Vitória despedir-me da família. Voltei e, com todas as instruções escritas sobre minhas funções, ao ir receber a passagem marítima de um “Ita”, pergunto:
— Como estão os pagamentos em Santa Catarina?
— Agora só temos seis meses de atraso.
— Dr. Cotrim, meu pai, velho ferroviário, sempre diz que o melhor amigo do administrador é o dinheiro. Ou levo o numerário ou, me desculpe, não posso aceitar.
— Pôr os pagamentos em dia é impossível.
Contrataram, em meu lugar, o engenheiro Álvaro Monteiro de Barros Catão.
[DERENZI, Luiz Serafim. Caminhos percorridos — Memórias inacabadas. Reprodução autorizada pela família Avancini Derenzi.]
———
© 2001 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.
———
Luiz Serafim Derenzi nasceu em Vitória a 20/3/1898 e faleceu no Rio a 29/4/1977. Formado em Engenharia Civil, participou de muitos projetos importantes nessa área em nosso Estado e fora dele. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)
