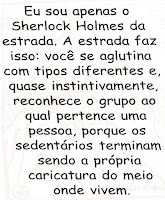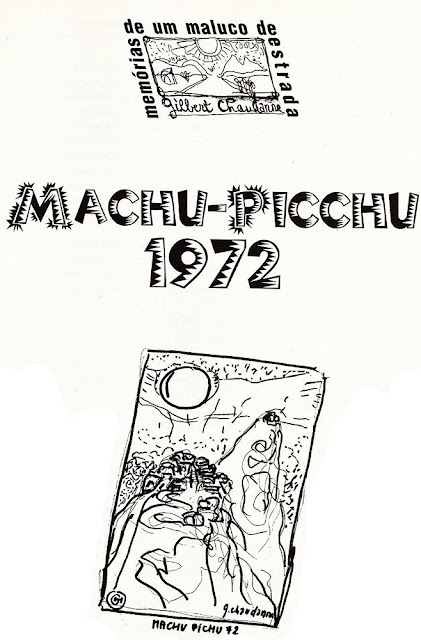 |
| Ilustração de Gilbert Chaudanne. |
Tem o trem de índios e tem o trem de gringos. Pego o trem de índios, porque sou índio da França, um gaulês: “Dos meus ancestrais tenho os olhos azuis… mas não unto minha cabeleira.” Como o primo Artur, que foi na Abissínia ser um etíope, estou aqui para ser um índio.
E por quê?
Porque a chamada civilização ocidental, com seus sinais, seu culto hipócrita do trabalho, sua ideologia predadora, nunca fez minha cabeça. Estou procurando uma paz dourada, como o Buda — mas talvez menos ascética.
Estou sentado no meio das ruínas de Machu-Picchu, olhando para os precipícios que cercam a cidade perdida. Estou sentado numa posição que lembra a do lótus, mas que, avaliando objetivamente meu nível espiritual, é apenas uma maneira de homenagear o lugar — as montanhas agudas e a cidade perdida —. Dizer que estou meditando é exagero literário. Estou apenas me entregando a mil devaneios sobre o tema da cidade perdida, debaixo do mar ou em cima da montanha.
E aí chega uma moça que se senta a uma distância respeitável. Saúdo-a, sem deixar de deslizar nos meus devaneios arqueológicos, e olho para ela:
— Você é de Lima.
— Sou.
— Você é estudante… em psicologia.
— Sou.
— Mora em Miraflores.
— Sim.
— Tem 22 anos.
— Sim.
Ela começou a me olhar de uma maneira quase assustada.
— Como você sabe?
— Alguém em mim sabe.
E ela foi embora, com o olhar de quem tinha perdido alguma coisa e a encontra de novo, quando pensava que nunca mais ia encontrá-la.
Mas não tinha nada a ver com um guru, não. Eu sou apenas o Sherlock Holmes da estrada. A estrada faz isso: você se aglutina com tipos diferentes e, quase instintivamente, reconhece o grupo ao qual pertence uma pessoa, porque os sedentários terminam sendo a própria caricatura do meio onde vivem. O maluco de estrada, não. Porque não se nutre do solo, como o sedentário-árvore, mas se nutre de algo muito mais espiritualizado: o espaço.

“Nós, civilização, sabemos que somos mortais.” Remoendo esta frase de Valéry, sentado lá como um velho Buda, no meio das ruínas, estou pensando isto: “Como se não bastasse que o indivíduo seja mortal, ainda mais, as civilizações! Quem eram os homens que aqui viveram? Que tipo de amores e de ódios tinham? Tinham livros? Bibliotecas? A religião era a do sol e do sangue — o coração extraído como sol do corpo — …ou eram os astecas? As pedras do sacrifício, meu Deus!!!”
Em Cuzco, vi a “Festa do Sol”, uma reconstituição que tinha perdido sua aura sagrada, com sacrifício de um lhama. Senti nada. Era em Sacsawhaman, a cidadela inca que domina Cuzco, aquela de pedras enormes, sem cimento. Mas, na descida, a multidão foi pegando as antigas sendas e a maioria era índios vestidos como índios dos Andes, poncho, gorro multicor, calça que pára abaixo do joelho. O sol estava agonizando no sangue do seu pôr, do seu porre, e os índios se desenhavam contra ele, como silhuetas fantasmagóricas, irreais, a-históricas, sobre o céu vermelho. E não parava de descer índios e mais índios. Encostei numa parede de pedras enormes e, nesse momento, realmente senti a presença do Inca, de uma civilização morta que não morreu totalmente.
Em Machu-Picchu, só havia as pedras caladas, o silêncio de pós-apocalipse.
Noite chegando. A lua, no seu lugar, batendo o ponto do seu romantismo anêmico. OK. Fico nas ruínas, com meu saco de dormir.
Acendo uma fogueira e, de repente, outras cabeças humanas se erguem atrás das ruínas: uma lourinha, feito carneirinho, uma outra moça, de articulações fortes, tipo alemã, mas de cabelo preto comprido, um rapaz moreno.
— Oi.
— Oi.
— Pode ficar aqui?
— Pode.
Sentaram. Nós, ao redor da fogueira. Bate-papo rápido:
— De onde vem?
— Gaulês?
— É.
De repente, a lourinha começou a cantar, um canto de ópera — ela estuda canto lírico —, canto louro de ópera, subindo nas ruínas de Machu-Picchu, Madame Butterfly,La Tosca, e essa voz, às vezes ainda insegura, talvez porque muito nova, em certos momentos, alcançava um ápice, reforçado pela lua, o ápice de algo que não morre, e a cabeça da moça, em pé, ficava aureolada pelos seus cabelos louros cacheados e pelo nimbo da lua, sendo ainda mais dourado por baixo pelas labaredas do fogo, e aí encontrei Machu-Picchu, neste paradoxo estonteante de ter captado o espírito do lugar — Inca — por meio de óperas italianas, cantadas por uma peruana loura de origem ucraniana.
Como diz Maurice Barrès, há realmente lugares onde sopra o Espírito, ou algo parecido. Parece que, chegando a uma certa altura da civilização, chegamos ao mesmo ponto, num ponto único, que é o mesmo para essas civilizações. As diferenças são apenas problemas de forma, não de conteúdo. Madame Butterfly, desfilando de quimono nas ruínas de Machu-Picchu, e cantando: “Sobre a calmaria do mar, vejo uma fumaça…”, como essa fumaça da nossa fogueira de fraternidade. Porque havia também essa dimensão gostosa: algumas horas antes, ninguém se conhecia e agora estamos numa espécie de comunhão — e de comunhão de momentos que vão ficar para sempre. Esses momentos, que parecem estar fora do tempo, são, na verdade, um concentrado de tempo em que os acontecimentos também são concentrados e chegam assim a criar um novo acontecimento, que os transcende: é o milagre do momento. Que Deus, ou os Deuses, o Espírito do lugar ou a Arte sejam responsáveis por isso pouco importa. O bom é que acontece o “milagre”; mas não me vem com esse desejo de possuí-lo, esse milagre. Ele é imponderável e escapa de todas as mãos, de todos os pensamentos de apropriação.
Buda agora está sentado nas chamas de nossa fogueira, sorrindo para a paz dourada de Machu-Picchu.
[Da série Memórias de um maluco de estrada, transcrito da revista Você, da Universidade Federal do Espírito Santo, n. 55, março de 1998.]
———
© 1998 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização expressa dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.
———
Gilbert Chaudanne é artista plástico e escritor. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)