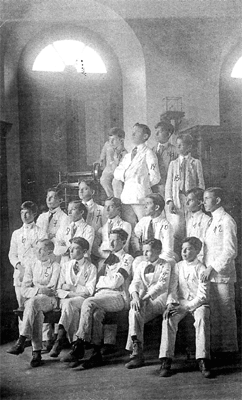 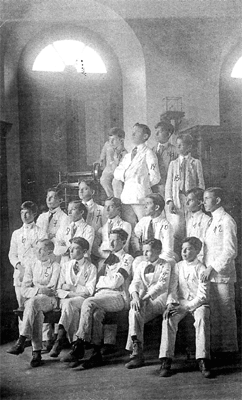 |
| Colégio Anchieta, turma de Física do 4º ginasial. 1914. |
Guiomar é o divisor de águas entre Cachoeiro de Itapemirim e Vitória. Lá morava o médico José Teixeira de Mesquita, que assistia os operários, e de lá o frei Manoel Simões, da fazenda do Centro, periodicamente vinha batizar, casar e assistir os colonos italianos, então numerosos, em Vargem Alta, Virgínia e Alto Rio Novo.
Cachoeiro culturalmente se julgava superior à Capital. Tinha internato, luz elétrica, indústrias, era circundada de fazendas ricas e produtivas, e estava ligada por ferrovia a Niterói. Além de dois de seus filhos culminarem na política: os irmãos Monteiro, Bernardino no Senado e Jerônimo na presidência do Estado. Os cachoeiranos vendiam importância e chamavam sua terra de Princesa do Sul.
Os amigos Miranda e Serafim internaram seus filhos no Colégio do Verbo Divino, já muito conhecido. Foi em março de 1910.
O colégio ficava na margem esquerda do rio, um pouco abaixo da Matriz, onde depois se instalou a fábrica de cimento Monte Líbano. A estrada que o servia ainda não era rua. No morro dos fundos estava o cemitério, que nos assustava, à noite, quando alguma dor de barriga nos coagia a visitar o “chalé” sanitário, desligado do corpo principal da casa.
O recreio bem espaçoso, anexo ao caramanchão, todo florido de amarelo, possuía completo equipamento para ginástica: paralelas, trapézio, argolas e trampolim. Os padres eram severos, porém ótimos educadores. Um irmão leigo, o austríaco Cansius, nos ensinava Ginástica e Música. Adestrei-me muito em saltos e piruetas ornamentais. Quando saíamos a passeio cantávamos canções do folclore alemão.
Sabem quantas estrelinhas
Pelo vasto mundo vão…
Deus a todas está olhando
E do céu observando…
Ou então:
Hope! Hope! Hope!
Vamos a cavalo
Montados em cavalinho
Visitar o bom vizinho
Hope! Hope! Hope!
Como internos éramos vinte e poucos: Tancredo, Raul, Antônio Honório da Fonseca e Castro, Carlos Monteiro Lindenberg, Augusto Simmer, Francisco Kill… Os externos: Mário e Silvestre Machado, filhos do agente da estação, Luís e Zolindo Semprini, tocadores exímios do pequeno carrilhão da Matriz, César Cardinalli, Jerônimo Braga, Laurito Apolinário, Nilo Ferrari, Efraim Volpato, João Longo, Moacir e Sílvio Avidos, Aquiles Vivacqua, Nelson Silva e outros de que não me lembro mais.
O padre Reinaldo ensinava Francês, Geografia e Lições de Coisas. O reitor, padre Rodolfo Acquaviva, Catecismo, Instrução Moral e Cívica. Antônio Vieira da Cunha, o professor Tonico, Aritmética e Desenho. Nós adorávamos o professor de Português, o Dr. Vieira da Cunha, pai do Tonico; era médico, jornalista e poeta, sob o pseudônimo de Fídias. Suas aulas englobavam lições de História e Literatura, numa porreta linguagem pedagógica. Todas as vezes em que empregava uma construção gramatical fora da linguagem vulgar, explicava pacientemente alertando-nos contra o uso da gíria. Fabuloso, com aquele cavanhaque grisalho e pince-nez a tamborilar-lhe o polegar esquerdo.
O regime era um tanto germânico. Alimentação farta e boa. Todos gostávamos da sopa de vinho, servida no inverno.
Augusto Simmer e Francisco Kill gozavam de certo prestígio porque falavam alemão, e tinham vocação religiosa. O primeiro não se ordenou mas tornou-se um cidadão reto; formou-se em Direito, foi diretor da Fazenda Municipal e diretor da Penitenciária… Era católico fervoroso, de vida ilibada. O segundo ficou na congregação até morrer.
O colégio, não obstante sua curta vida, formou uma bela geração. Carlos Lindenberg, corretíssimo, prestativo, ótimo colega, tornou-se capixaba ilustre. Percorreu toda a escala política com popularidade e êxito: foi secretário de Estado, deputado, duas vezes governador e duas vezes senador. Luís Lindenberg e Nelson Silva, médicos eminentes. Moacir e Sílvio Avidos, Atílio Vivacqua, João Batista Longo, Antônio Honório da Fonseca e Castro, Clarindo Lima, Carlos Avancini, galgaram posições na engenharia, advocacia, medicina, indústria, comércio e na vida pública.
Foi pena não ter sobrevivido o Colégio Divino Espírito Santo. Hoje poderia ser a Universidade de Cachoeiro de Itapemirim, singularidade de que é a cidade merecedora.
Era então uma cidade típica de encruzilhada à beira do rio. As casas retangulares, descontínuas, enfileiravam-se sem alinhamento, acompanhando as curvas das águas, com certa ordem, porém sem obedecer a nenhum traçado prévio. Alongava-se do Guandu ao fim da rua Primeiro de Março com dois bolsões: a praça, dominada pelo Hotel Toledo emoldurando o ponto comercial e o largo junto à cabeça da ponte de ferro. Encostas montanhosas recortadas por chácaras e caminhos tortos que demandavam às fazendas do lado sul.
O edifício da Câmara, a meia encosta, dominava a vista para o rio, já tranqüilo, isento dos cachoeiros. Vigiando a ponte, um casarão: os correios e telégrafo. A ponte de ferro, com pranchões de madeira, tremia aos solavancos dos carretões e carros de boi. Pagava-se pedágio ao Sr. Sabino, do lado de lá, na pequena guarita, à esquerda de quem saía. No lado norte, casas espaçadas: a Matriz de São Pedro, a residência do Dr. Gil Goulart, já então ocupada por seu genro, senador Bernardino Monteiro. Um bairro morto, confinado por fazendas, principalmente pela Aquidabã.
Só tinha importância mesmo o lado sul. Toda a vida social transcorria no pequeno largo, enladeirado, onde se construiu a estação Visconde de Matosinhos, ponto de partida dos trens para Niterói, Castelo e Alegre. A estrada de ferro não ia ao Rio de Janeiro; terminava em Niterói.
Na rua Capitão Deslandes, em cima do cocuruto, situava-se o quartel de Polícia e a delegacia. As desordens eram freqüentes. O Hotel Toledo era o ponto de reunião social. Sábados e domingos dançava-se, ouvia-se música ou recitativos. Estava sempre cheio. Caixeiros viajantes, cometas, portuguesada simpática, polida, namoradeira de moças sapecas.
Em frente, dando fundos para o rio, os negócios: padaria, botequins, a Farmácia Silva, a Casa Benjamim, de armarinhos e fazendas, João de Deus Madureira, ferragista e outros. Dois jornais: o Alcantil e o Cachoeirano. Sílvio Leite, médico, Ferreira Pinto, advogado, João Mota, poeta e jornalista, o industrial Mário Imperial. Despontava nas musas, cantando amores, as belezas da natureza, o segundo negociante Benjamim Silva, moço elegante, risonho e simpático, inflamando corações femininos com seus versos parnasianos.
Politicavam: Rafael Di Martino, Francisco Braga, Pinheiro Júnior, os Monteiro, os Amaral, o coronel Ataíde.
A política dividia-se entre a família Monteiro no poder e Pinheiro Júnior na oposição sistemática. Os cachoeiranos tinham ciúme doentio dos capixabas de Vitória. Um nativismo truculento, estribado no seu poder rural, nos grandes latifúndios de café, cana e gado. De fato, a situação era privilegiada. Primeira cidade a ter luz elétrica e água encanada. Liam-se diariamente os jornais do Rio de Janeiro. Bela dianteira, incontestavelmente.
Em Cachoeiro de Itapemirim completei doze anos e comecei a sentir a diferença entre o barbarismo de minha infância e o novo mundo de sensações que se abria diante de minha inteligência indagadora. O universo crescia, a paisagem que circundou os primeiros anos do meu contato com a civilização tomava nova amplitude. Já não era mais a floresta sem fim, os garimpeiros a cutucar a terra, os meninos selvagens. Era todo um complexo de nova vida, de sensações estranhas, que se me apresentou. Nova linguagem dos professores, contato com meninos de outra educação, livros de textos que eu ignorava que existissem, vida comunitária diversa da que eu tivera até então. O mundo cresceu. Não tive medo do cometa de Halley, graças à explicação do padre Reinaldo, que nos contou a origem do universo criado por Deus. Creio que por três vezes fomos acordados para contemplar o feérico espetáculo luminoso que prateou o céu. Ouvi a explicação astronômica do cometa e da órbita que ele percorria, mas confesso não ter compreendido nada. Fiquei com mais um mistério, dos muitos que se formavam na minha imaginação.
Progredi muito, intelectualmente, em Cachoeiro. Com as lições de Geografia de Horácio Scrosoppi fiquei sabendo do tamanho do mundo e da diferença panorâmica dos países. Compreendi melhor as conversas de “Seu” Serafim, quando discutia com o português José da Silva e o espanhol Leonardo Garrido a primazia da Itália sobre Espanha e Portugal.
Todos os sábados vinha a lavadeira do colégio. Era uma mulata volumosa, guiando uma carroça puxada por mula mansa e velha. Trazia as roupas separadas pelas toalhas de rosto, formando trouxas individuais que sua filha, mocetona de uns quinze anos, peituda, distribuía pelas camas, sem a menor confusão. Belmira tinha faro. Não se enganava. Um dia cruzei com ela na porta do dormitório. Fiz um balancê, embaraçando-lhe os passos. Ela deu-me um empurrão e disse:
— Chega pra lá, menino, — e riu.
Senti uma estranha sensação. Depois, todos os sábados, eu ficava de espreita para ver Belmira chegar. Que coisa!
Aos domingos assistíamos à missa na Matriz e íamos para o coro, onde, em latim, cantávamos os salmos e hinos litúrgicos. Nós gostávamos porque era uma caminhada boa. Melhor ainda nos meses de maio, junho e outubro, quando íamos às ladainhas, com sacrifício de uma hora daquele estudo da noite, que nós supúnhamos infinito. Voltávamos edificados e com promessas angelicais.
O encerramento do ano letivo foi simples. A meninada, reunida na sala comum de estudo, recebeu os boletins de promoção. Os aprovados exultaram e os poucos que não alcançaram a promoção choraram. Na minha turma, João Longo e eu empatamos em qualificação. O João Longo era mais velho, externo, e já tocava trompa na charanga Lira Operária.
Minha família já fixara residência novamente em Vitória e para lá me fui a passar as férias de fim de ano, com um lindo boletim, com uma nota só diferente de dez: Português, grau quatro.
Fiquei contentíssimo quando cheguei em casa. Nunca havia morado em habitação de alvenaria! Exultei; cômodo só para mim, com mesinha para escrever e gavetas para guardar coisas. Situava-se nossa moradia em Vila Moscoso e fazia parte saliente de um correr de chalés recuados uns três metros do alinhamento, com jardins plantados de manjericão, crisandálias, zinhas, crótons coloridos e papoulas, também alguns cravos de defunto amarelos e coroas vermelhas, meus conhecidos por adornarem todos os cemitérios da roça. Nossa casa era de esquina. Ali cruzavam-se a avenida José Carlos de Carvalho, hoje Marcos de Azevedo, e a rua Vinte e Três de Maio, que conserva o nome. Fugia do estilo suíço dos nossos vizinhos. Contíguo a nós morava o coronel Henrique Mascarenhas, oficial da Guarda Nacional e nome na geografia estadual; o arraial perto da fronteira com o Estado de Minas, Vila Mascarenhas, é hoje distrito do município de Baixo Guandu. Era um homem retraído, mas apaixonado pela política. Florianista, tinha na parede da sala de visitas um retrato, com dedicatória, do Marechal de Ferro. Era casado com uma Milagres e tinha uma quantidade de filhos. O mais velho, Terésio, fora estudar engenharia na Suíça mas voltou só fotógrafo. As filhas eram lindas mulheres, todas se casando bem. Os outros moradores eram também categorizados: o desembargador Carlos Gonçalves, baiano, sempre de fraque e colarinho em pé, o tesoureiro do Estado, Monteiro, o capitalista José Fernandes Coelho e os outros tantos, todos boa gente.
Eu me achei feliz: meninas e meninos, brancos, para brincar. O campinho era um vasto charco com ilhas onde freqüentemente brincávamos de “preso-fugido” ou de “barra-manteiga”. Tudo isso passou, o Parque Moscoso ocupou a área recuperada dos mangais e brejos, pelo aterro executado pelo “Seu” Derenzi, com suas carrocinhas puxadas a burro. Mas o meu contentamento era nossa casa com jardim na frente e fundos até a subida de Santa Clara. Eu não precisava temer as cobras nem me resguardar das goteiras quando chovesse. Da janela do meu quarto eu espiava os que passavam, os que desciam o morro da Caixa d’Água, e, quando chovia, era só abaixar a guilhotina de vidro. Pronto. As janelas não eram cegas como nos barrancos onde sempre moráramos antes.
Em março de 1911 matriculei-me no primeiro ano do Ginásio Espírito-santense. O educandário oficial era bem diferente do Colégio Diocesano do Divino Espírito Santo, donde eu vinha. Tinha alunos nas cinco séries e uma freqüência superior a 150 alunos. O pátio, sim, era muito pequeno. A meninada se aglomerava junto ao chafariz seco da esquina das ruas Muniz Freire e José Marcelino, à espera do início das aulas.
Nesse mesmo edifício, com o mesmo aspecto, funciona hoje o Colégio São Vicente.
Os professores eram muito exigentes. O padre Guilherme Portem, diretor do Ginásio, ensinava Aritmética e castigava os meninos vadios ou atrasados, com chamadas quotidianas ao quadro-negro e exercícios em casa. Todos os minutos finais da aula ele nos martirizava com os famosos cálculos rápidos. O cônego José Maria Cochard ministrava Francês. Extraordinário! Uma bela cultura histórico-literária a par de suas virtudes sacerdotais. Quem ensinava Geografia era padre Cirilo, alemão que falava sem sotaque, caso raro. O texto que eu por muitos anos soube todo de cor era de Horácio Scrosoppi.
O simpático baiano J. J. Bernardes Sobrinho, bacharel em Direito, promotor público, prelecionava Português, matéria na qual eu era “zarro”, como se dizia na gíria capixaba, isto é, fundo, ignorante, porque eu não estudava em casa. Revia apenas algumas notas de aula mas não sabia anotar e, como não tinha gramática, não aprendia nada. De três em três meses o Ginásio promovia um concurso: sorteava-se em cada turma um ponto de matéria dada e, com muita fiscalização, cada aluno fazia a prova. Os três primeiros iam para o banco de honra. Sentavam-se na primeira fila das salas de aula, tinham seus nomes escritos em quadro todo enfeitado no auditório. Confesso que ambicionava me classificar, mas… o filho da mãe do Português me derrubava sempre com as abomináveis notas quatro e quatro e meio. Ao correr do segundo semestre eu já era aluno festejado em Francês, Geografia e Aritmética. Um dia o Dr. Bernardes me chamou e eu o acompanhei até à porta de sua noiva, Maroquinha, filha do desembargador Gregório Magno Borges da Fonseca. Ele me disse com certo interesse:
— Você é aluno aplicado em todas as matérias menos em Português, por quê? Sua concordância, sua ortografia e seu vocabulário são medonhos. Por que você não estuda um pouquinho mais?
Respondi encabulado e comovido:
— Não sei tomar notas e não tenho gramática.
— Isto não é desculpa. Vou dar-lhe explicações particulares e, quanto à gramática, você tem a principal, a introdução da Seleta nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet, nosso livro de leitura.
E aconteceu. Com meia dúzia de magníficas aulas particulares e repetidas leituras do prefácio da Seleta, no terceiro trimestre classifiquei-me em terceiro lugar, apesar do grau sete na língua de Camões. Progredi muito, mas na ortografia… Benza-me Deus… Escrever hipopótamo com agá, ípsilon, dois pês, quem podia acertar? E Niterói, que então era N-i-c-t-h-e-r-o-y! Confesso que ainda hoje é uma tortura para mim a ortografia oficial, não obstante as múltiplas simplificações decretadas. O professor Bernardes Sobrinho ganhou minha eterna amizade e ele a correspondeu dispensando-me sempre muita atenção. Inteligente, culto, probo, fez bela carreira política este baiano casado com bonita capixaba: secretário geral do Estado no governo Bernardino Monteiro, deputado federal e, depois de 1930, membro participante do corpo jurídico da Light.
No dia 12 de outubro de 1911, o Ginásio Espírito-santense comemorou solenemente a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Aliás, todas as datas históricas, antigamente, eram festivamente lembradas nos estabelecimentos de ensino. Bom costume nos feriados, palestras instrutivas eram proferidas por pessoas de cultura. Essa data ficou-me bem marcada no subconsciente: então definiu-se o meu destino. Depois da palestra alusiva proferida pelo Bernardes, um aluno recitou “O livro e a América”, poema de Castro Alves. O reverendo padre Portem fez uma espécie de homilia cívica nos concitando à prática das virtudes morais e cívicas e ao temor de Deus. Nesse exaltadíssimo momento o céu escureceu, o calor abafou e um dos maiores relâmpagos de que me lembro ziguezagueou no espaço, seguindo-se, conseqüentemente, o trovão, que ribombou tão próximo, como se tivesse explodido sobre as nossas cabeças. Romperam-se as cataratas do céu e, por duas horas, as águas em verdadeiros jorros castigaram a cidade desastrosamente. Os raios fuzilavam os altos de São Francisco e do Moscoso. Uma das palmeiras do convento franciscano foi decepada. Duas ou mais horas depois a chuva abrandou, peneirou no espaço e a estiagem rala permitiu a dispersão da rapaziada aflita. Eu e meus companheiros Tancredo e Raul Miranda descemos a ladeira de São Gonçalo. Naquele tempo não havia a escadaria de acesso da avenida Cleto Nunes (que, por acaso fortuito, fui eu quem construiu quatorze anos depois). Toda a sujeira dos morros rolou para a baixada. As ruas General Osório e da Lapa (hoje Thiers Vellozo) transformaram-se em rios caudalosos e o Parque Moscoso, ainda não ajardinado, assemelhava-se a um mar de águas sujas: miserabile visum diz o bom Virgílio, na Eneida.
Para chegar em casa não havia alternativa: enfrentar o alagado provocado pela tempestade. As águas, além de sujas, carrearam todas as imundícies dos morros que vertem para o antigo campinho. Eu me esqueci que estava com farda cáqui passadinha a ferro e com os borzeguins Clark novinhos em folha. A lâmina d’água em alguns trechos atingia um metro de espessura e, caminhando e andando, me aproximei de casa.
Quem estava à janela acompanhando minha bravata? Dona Marieta, minha santíssima mãe! Não tive tempo de articular defesa. Levei a maior surra que se pode levar sem fraturas. Foi a última, e decidiu minha fortuna social. Vesti camisola e fui dormir. No dia seguinte, 13 de outubro, data que é muito importante para mim, o treze passou a ser um número de sorte, Dona Marieta, toda compungida, deu-me café com gemada, pão quentinho bem amanteigado. Sua fisionomia pareceu-me misteriosa. Depois de alguns afagos, ela me disse que tinha um segredo de que eu iria gostar muito. A mesma surra os irmãos Tancredo e Raul levaram de seu pai, Joaquim Pinto de Miranda, compadre e sócio de meu pai. “Seu pai e o Miranda, ontem à noite, combinaram mandar vocês três para o Rio de Janeiro”, disse-me mamãe na hora do almoço. Eu fiquei alucinado de contente e corri para a casa dos Miranda, ali no fim da avenida da República, para me certificar da novidade. Exultamos de alegria! Que castigo agradável!
Veio o fim do ano, os exames a contento e a renovação do castigo: internato e separação.
Nos meses de novembro e dezembro a praça de Vitória regurgitava de caixeiros viajantes com suas canastras fornidas, a correr a freguesia e distribuir folhinhas com a propaganda das casas que representavam. Todos, de modo geral, eram moços elegantes, bons conversadores e portugueses. À tarde, os bares e os cafés enchiam-se dessa gente a contar anedotas e novidades. O Café Rio Branco, do Ribeiro de Souza, o Globo, dos irmãos Trinxet, o Vitória Store, de Gaspar Guimarães, ficavam à pinha de viajantes e fregueses, tomando cerveja e conhaque e comendo sanduíches. Atormentavam-se as donas de casa, porque os maridos se atrasavam e a janta ficava às moscas. Alguns nomes se popularizaram: Alfredo Melo, José Sampaio, “Zé dos Tamancos”, que vendia chinelos e tamancos e contava anedotas impróprias para menores. Casou-se em Vitória com uma filha de Fernandes Coelho, capitalista e o maior proprietário da paróquia. João Siqueira, o homem do armarinho e novidades para mulheres, sempre de linho branco e improvisador de bailes. O Denis, alto, robusto, vermelhão, representava Borlido Maia & Cia., casa de ferragens, explosivos e material de construção.
A firma Miranda e Derenzi era a melhor freguesa da Casa Borlido Maia, e por essa razão o Denis dispensava-lhe toda a cortesia possível. Foi a ele que meu pai confiou a tarefa de nos internar, a mim e aos companheiros Tancredo e Raul, mas cada um em separado. E assim, em fevereiro de 1912, pela manhã, num “Ita”, embarcamos sob o cuidado do “Seu” Serafim e madrugamos, no dia seguinte, na baía de Guanabara. Nossa sensação de provincianos, eu não sei traduzir. Ancoramos ao largo, os paquetes nacionais não atracavam no porto. Ficamos mais de uma hora à espera das autoridades sanitárias que desimpediam os passageiros. Mas os botes e lanchas logo se acostaram a oferecer seus transportes. Fiquei estupefato a correr de um bordo para outro e me senti pequeno demais para aquele mundo novo que se me oferecia. O sol despontava. A paisagem longínqua doirava-se em contraste com o azul escuro das montanhas distantes. O mar tranquilo, mas povoado de navios, barcos, traineiras, barcas da Cantareira a cruzarem com apitos graves e acenos de lenços. As gaivotas e os urubus plainavam tranqüilos no espaço que se incendiava aos raios solares. Os botos cambalhotavam, a bordo a confusão aumentava gradativamente. Desembaraçado o navio, os carregadores e reclamistas de hotéis invadiram os portalós com algazarras ensurdecedoras. Afinal descemos. O bote que escolhemos não se contentou com os Miranda e os Derenzi, com suas quatro malas de cabine. Levou mais uma família de nortistas com bagagem maior que a nossa. Fiquei com medo. A distância da terra me parecia muito longa e cada lancha que passava abria marolas que nos faziam corcovear e o medo aumentava um bocadinho. Afinal, depois de uns três quartos de hora, atracamos no Cais Pharoux, ensopados de suor e aliviados da paura. Um “Seu” Manoel, lusitano bigodudo, acomodou a bagagem no seu carrinho de mão e nos aconselhou o Hotel Globo, indicando o trajeto: seguir sempre pela rua do Ouvidor até o largo de São Francisco, dobrar à direita, seguir pela rua dos Andradas, uns trinta passos, e estaríamos no hotel. Ele não podia nos acompanhar, seguiria pela rua do Rosário, porque era proibido aos carregadores transitar pela rua do Ouvidor. Chegamos ao hotel sem muita dificuldade mas invocados porque as placas do logradouro que seguimos e o largo onde desembocamos diziam rua Moreira César e largo Coronel Tamarindo. Só muitos anos depois eu soube que esses militares se celebrizaram tristemente, o primeiro pelos fuzilamentos, no Paraná e Santa Catarina, dos não simpatizantes do Marechal de Ferro; e o segundo por ter combatido os fanáticos de Antônio Conselheiro, em Canudos. Mas os cariocas não concordaram com as homenagens prestadas. Guardaram a colonial denominação aos logradouros mais nobres da cidade, lembrando a residência do juiz de antanho e o santo patrono da belíssimo igreja que deu origem ao famoso largo. Por volta do ano 1920 o governador da cidade substituiu as placas que ninguém havia se habituado a ler. E os dizeres das placas eram verdadeiros: satisfaziam às velhas tradições dos logradouros.
Aboletamo-nos no Hotel Globo, um dos melhores da cidade e, após o clássico cafezinho, com gosto de iodofórmio, o “Seu” Serafim nos comboiou à rua Primeiro de Março, onde se situava a Casa Borlido Maia. O prestativo Denis nos apresentou ao chefe da firma e tomamos conhecimento de que as matrículas já estavam feitas: Tancredo em São Cristóvão, no Colégio Pio Americano, Raul em Petrópolis, no Colégio São Vicente, e eu em Nova Friburgo, no Colégio Anchieta, regido pelos jesuítas.
Passamos uma semana na cidade: enxoval e honrarias dos caixeiros viajantes das casas fornecedoras a Miranda e Derenzi. De dia, passeio de automóvel: Alto da Boa Vista, São Cristóvão, com o famoso museu, Leme e Copacabana, só para ver o mar, pois a não ser o restaurante do Leme, nada mais havia. Almoços e jantares nas famosas petisqueiras. De noite, teatro, na praça Tiradentes, e circo de Pascoal Segretto, em frente ao Municipal. A Cinelândia não existia e o convento da Ajuda, em demolição, ainda dava nome ao largo da Ajuda.
Por que recordar o passado com devoção fetichista? Por que aferir os acontecimentos de hoje com os que ocorreram na nossa juventude? Por que censurar o quotidiano?
Nós não somos responsáveis pelos modos e costumes de hoje, no evoluir dos tempos? Ah! Porque aquilo que imaginávamos ontem não se realiza por nós, mas pelos nossos filhos, com conhecimento mais avançado e não como sonhávamos. As sensações da vida são inversamente proporcionais às nossas idades. Esta inversão é a causa da saudade. Os poetas dizem que “o passado não se apaga jamais”. Ele mora conosco e nos acompanha para sempre. Sim, o passado é a série de dias bons, dos sonhos belos que não se realizaram e agora moram no subconsciente a nos martirizar.
Estas considerações, talvez tolas, me vieram à mente ao evocar o ingresso no Colégio Anchieta.
Foi em fevereiro de 1912 que tomamos o trem em Maruí, Niterói, com destino ao colégio. O percurso da baixada fluminense não nos interessou, mas quando saímos de Conceição de Macacu com locomotiva diferente das nossas conhecidas, inclinada, a linha férrea com três trilhos, nos postamos na plataforma traseira do vagão, cheios de curiosidade. Compreendemos por que a locomotiva tinha o truque traseiro mais alto e um terceiro trilho. Galgávamos a serra com rampas fortíssimas, com mais de quinze por cento em alguns trechos, e a locomotiva dispunha de um sistema de freios, cujas sapatas, em caso de perigo, abraçavam o terceiro trilho, automaticamente, e estancavam a composição. A subida se fazia galgando uma das mais belas paisagens de vales e montanhas. A floresta virgem, com as quaresmeiras aqui e acolá, entremeadas de acácias e embaúbas, todas floridas, emprestava ao ambiente visão surpreendente. À medida que subíamos, o frio aumentava e em muitos trechos a neblina encobria totalmente a natureza. Era um mundo novo, bem diferente, tanto em colorido como em espessura, daquele nosso conhecido no vale do rio Doce. No alto da serra, na estação Teodoro de Oliveira, transpunha-se o divisor de águas a mais de mil metros de altura, a locomotiva de cremalheira era substituída pelas convencionais e começava a descida para o vale do Bengala, rio que corta a cidade de Friburgo. O traçado tortuoso e atrevido da estrada, os córregos encachoeirados, os pássaros empoleirados nos fios do telégrafo, a profundeza dos vales vencidos nos empolgavam e provocavam exclamações de meu pai: “Como é bonita, Luís, esta estrada.”
Chegamos ao destino. Um carregador loiro como uma espiga de milho nos levou ao Hotel Leunroth quase fronteiro à estação. Após o almoço, de cozinha germânica, tomamos um tílburi para o colégio. A massa arquitetônica que se alcança por caminhos curvos e floridos, a imponência do pórtico, onde saltamos, a portaria com as figuras do padre José de Anchieta e de Santo Inácio de Loiola, se me gravaram para sempre na memória.
Fomos recebidos por um irmão leigo, que nos levou ao gabinete do padre reitor, o inolvidável padre Madureira. Após as formalidades comuns, recebi o número 98, meu pai se despediu, eu ainda ouvi o cincerro do tílburi que o esperava. O reitor me instruiu no regulamento do colégio, felicitou-me pelas notas do meu boletim de exames feitos em Vitória, mas me disse que na última semana do mês eu deveria prestar exames para o segundo ano, juntamente com os candidatos à segunda época. O colégio não reconhecia a validade do Ginásio Espírito-santense.
O marco de minha formação intelectual está no saguão austero do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo. Foi no recinto espesso de suas paredes, sob o rigor inflexível da pedagogia dos filhos de Santo Inácio, que meu caráter se formou. Internaram-me na idade de transição da meninice para a adolescência, no justo período da tomada de consciência da vida. Foi um verdadeiro transplante. O clima, a comunidade, a rotina e os costumes, eram estranhos para mim, que vinha duma modesta cidade e hábitos pobres e de famílias humildes.
Meu primeiro contato com o colégio foi pitoresco e inesquecível. Do gabinete do padre reitor fui levado pelo bedel Eugênio diretamente ao recreio dos menores. Não me apresentou a ninguém. Garoava e os meninos, para se aquecerem, brincavam sobre pernas de pau. Apenas penetrei no recinto, apertou-me o coração de saudade e uma torrente de perguntas caiu aos meus ouvidos:
— Como se chama? Qual é o seu número? De onde veio?
Respondi aturdido.
— Novato! Novato! Novato! — E me circundaram, trepados em suas montarias, e vieram as críticas. Meu enxoval era pobre de tecido e de feitio. Minhas calças desciam meio palmo abaixo do joelho, quando o uso era justamente o contrário.
— Olha! Olha! A calça dele é de pegar jacaré, jacaré…
Encabulei, a cabeça esquentou e investi sobre o primeiro perna de pau que mais me apoquentava. Desmontei-o e tomei-lhe uma das andas e saí, como louco, a vibrar pauladas a torto e a direito, xingando a todos com os epítetos usados à beira do cais. O padre Leme, um paulista severo e de pouca conversa, silvou seu apito, forte e longo, que significava silêncio e parada brusca. Todos se calaram e ficaram quietos em suas posições e eu aos berros a ofender a todos, inclusive suas mães distantes, com todo o fôlego de meus pulmões. Foi quando padre Leme, levantando a batina, correu, gritando: Cala, cala a boca!, até me agarrar e me desarmar, me levando de castigo. Eu chorei convulso e padre Leme, com as mãos trêmulas, a me inquirir: Seu número? Donde veio? O que faz seu pai?
Respondi soluçando. O padre, compadecido talvez, indagou da situação de minha família, do meio em que eu fora criado, do colégio donde vinha. Fichou-me em seu espírito, e deu-me todas as regras disciplinares, concitando-me a modificar para sempre minha linguagem. Recomendou-me que rezasse bastante a Nossa Senhora e aos Santos Anjos, protetores da divisão dos menores em que eu havia entrado. Por fim disse-me:
— O senhor entrou com o pé esquerdo, procure acertar os passos, do contrário…
Nessa tarde não jantei; no recreio que se seguia à refeição fiquei debaixo do galpão e, durante os 45 minutos do último estudo, minha imaginação voava em torvelinho.
Recebi o elenco dos livros indispensáveis e comecei a frequentar as aulas preparatórias e, rigorosamente, obedeci aos cânones exigidos. Uma semana depois já me familiarizara com a meninada e nos sabatinávamos reciprocamente. Veio o fim de fevereiro e com ele os exames. Fui aprovado plenamente e recebi o primeiro elogio e exortação do padre Leme, prefeito da minha divisão, e também ganhei a simpatia de muitos colegas que comigo fizeram provas. A principal foi a do amazonense Aguinaldo Raimundo Raposo da Câmara, o 79, que mais tarde se diplomou na América, em Engenharia.
Permaneci quatro anos no Colégio Anchieta. Fiz meu curso de Humanidades com muito entusiasmo. Devo ter sido, dos alunos pagantes, o de menor recurso, e o de família mais humilde. Entre os condiscípulos havia filhos da mais alta hierarquia nacional: de barões, condes, generais, jurisconsultos, senhores de engenho, da aristocracia rural e do alto comércio.
Nas horas de recreio, nos dias chuvosos, ficávamos todos debaixo do galpão protetor. Eu me martirizava. A conversa versava toda sobre as famílias, sobre as férias gozadas e os planos para as futuras. Uns haviam-nas passado na Europa, outros na fazenda do avô, nomeado pelo título de nobreza, e ainda havia muitos que vinham das estações termais. E eu? Vinha do Parque Moscoso, da Vitória colonial, da convivência com gente pobre e sem parentes com retratos em museus, confrarias ou associações de classe. Confesso que me roía de inveja. Sentia minha humildade de plebeu.
Uma vez por mês havia saída, podendo o aluno passar o dia fora, na cidade, acompanhado pelos pais ou tutores, previamente registrados na secretaria do colégio. Saíam quase todos. Os dez ou quinze por cento que ficavam ou eram nortistas, cujos pais estavam distantes, ou impedidos por má aplicação ou comportamento.
Eu nunca fui visitado, nem chamado à portaria. Pudera! Um pobre provinciano! Os meninos que saíam, ao voltarem, vinham providos de comestíveis finos, doces, lataria, com que reforçavam a merenda das duas horas da tarde. O colégio apenas nos dava um pãozinho seco. Era o que eu comia e sempre com fome. Só poucos colegas me ofereciam guloseimas: o Nelito Dias Garcia e os Correia de Brito, pernambucanos, filhos de donos dos produtos marca Peixe.
O Nelito, neto do Visconde de Madeira, riquíssimo, era muito generoso; seu pai, o comendador Dias Garcia, o maior ferragista do Rio. Aos domingos vinham os pais e às quintas-feiras os avós em trem especial. Os fluminenses, os mineiros e os paulistas recebiam provisões imensas: bolo inglês, caixas de doces, tabletes de chocolate suíço, latas de manteiga, queijos, etc.
Cada recreio tinha um pavilhão com armários de dezenas de gavetas, fechadas à chave, onde os meninos ricos guardavam as provisões. Eu nada! Mas os deveres de cada dia, principalmente os das quintas e dos domingos, além de serem trabalhosos, cresciam progressivamente em dificuldade. E uma boa parte dos alunos, com dispensa fornida, uns vadios, outros de inteligência curta, procuravam os colegas mais classificados para que lhes resolvessem os deveres, em troca das comezainas. Eu pertencia à primeira turma e vendia os deveres por fatias de queijo, goiabada, etc.
Era eu estudioso? Sim, eu o era por imperativo, porque temia as recomendações de casa.
— Se você não estudar e não for para frente, vai trabalhar na “turma”.
Eu estudava tanto por prazer, como para me avantajar sobre os meninos ricos. Não fui aluno distinto, mas participei do grupo dos melhores, além do mais, gostava de desbancar os de fortuna e títulos nobiliárquicos.
Tenho saudade do meu colégio, dos professores e de muitos colegas. A disciplina era rígida, porém eu me adaptei sem muita rebeldia. De vez em quando um castigo, uma chamada ao gabinete do reitor, o celebrado padre José Manuel Madureira, donde se saía sempre com lágrimas nos olhos. Suas repreensões eram lógicas e afetivas. Não humilhava nem castigava ninguém. Era e foi um dos grandes jesuítas do século. Moço ainda, ocupou a cátedra de Filosofia da Universidade Gregoriana de Roma. Inteligência privilegiada e virtudes peregrinas. Lecionava a sua cátedra predileta, demorando-se em Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás. Apesar de a matéria não constar do currículo ginasial, todos nós prestávamos muita atenção às suas belas e magistrais preleções. Músico e pregador. Fisionomia severa, mas insinuante. Converteu muitos homens notáveis, entre eles o celebrado Pandiá Calógeras. Tomava rapé e, quando espirrava, o estrondo ribombava como trovão. Fui aluno de professores famosos, entre os quais destaco os padres José Campos, Vicente Prosperi, Martin, Gualandi, Guilherme de Saura, Maia, Bononi e o Dr. Guedes.
O colégio era uma comunidade como não existe mais. Curso bem ministrado e proveitoso. Estudávamos, além das disciplinas comuns, Filosofia, Cosmografia e Teodiceia.
Mensalmente a Aurora colegial circulava com notícias interessantes e colaboração literária dos alunos. O melhor trabalho de Português, naturalmente dos alunos do quarto ou quinto ano, era publicado, para gáudio de seu autor.
Havia cursos de Música e os professores do meu tempo inscreveram-se na história da Música com certo relevo: Artur Strutt, violonista, spalla do Constança de Roma, Augusto Mancini, pianista emérito, Carlos Ciardi, flautista, todos italianos, contratados pelo padre Madureira. E o professor Reinaldo, brasileiro, modesto mas grande mestre de instrumentos de sopro. As aulas de música eram facultativas e pagas à parte. Eram muitos os que estudavam música, tanto assim que o colégio teve sempre uma banda de música, uma grande orquestra e outra de câmara, composta pelos melhores elementos. Eu fiz parte das duas últimas nos dois anos finais do curso. Era preciso conhecer o nosso repertório. Todos os barrocos, os românticos e também as operetas vienenses de Strauss de Leo Fall, que fizeram as delícias dos espectadores da belle époque. Notável também o coro da capela. Cantavam-se missas a três vozes.
Os músicos gozavam de certas vantagens junto ao padre Madureira, que era contrabaixo da pequena orquestra. Muitos se tornaram virtuoses: Bernardo Mascarenhas, Almeida Magalhães, José Padrenosso, Henrique Esberard, Malta Cardoso, Luís França.
Quase todos os ex-alunos se encaminharam bem na vida pública e privada. Muitos ganharam reputação nacional. Eis alguns nomes conhecidos: general Juraci Montenegro Magalhães, almirantes Ernani e Augusto Amaral Peixoto, os Macedo Soares Guimarães que, além de brilhantes militares, se projetaram como políticos. Na Medicina distinguiram-se sobremaneira Mota Maia, Paulo de Carvalho, Nelson Moura Brasil do Amaral. Na Jurisprudência, Haroldo Valadão, professor emérito conhecido internacionalmente. Na Engenharia, Miguel Ramalho Novo, Plínio de Almeida Magalhães, Francisco Xavier Kulnig, Leopoldo Franca e Luís Augusto da Silveira, este um dos mais completos engenheiros brasileiros. Cito só os meus contemporâneos, pois se me referisse aos da minha geração a série seria infinita: Israel Pinheiro, Artur Bernardes Filho, como políticos de projeção e, um pouco mais jovem, o príncipe das letras brasileiras, digno do Prêmio Nobel: Carlos Drummond de Andrade.
Quando da reforma do ensino, em 1915, a chamada Reforma Carlos Maximiliano, eu cursava o último ano. Para candidatar-se a uma escola superior era necessário ter sido aprovado em instituto oficial de ensino. Eram poucos os cursos secundários oficiais de então. Excepcionalmente o Estado do Rio mantinha dois: o de Niterói e o Liceu de Humanidades, em Campos.
Os jesuítas se empenharam por todos os meios para que se oficializasse o Colégio Anchieta ou ao menos que lhe fosse dada uma banca examinadora. Nem a tradição de vinte e cinco anos de efetivo e tradicional ensino, nem o prestígio de seus ex-alunos, no cenário da política nacional, lhes valeram. E, pior que tudo, o desfecho da apaixonante contenda ocorreu no mês de outubro, já muito tarde, ao expirar o ano letivo. O padre Madureira, com mil dificuldades, só pôde se valer do Liceu de Campos para acomodar os cento e poucos alunos, formadores dos terceiro, quarto e quinto anos, sujeitos aos exames finais, respectivamente, de quatro, oito e doze matérias. Foi um rude golpe para o prestígio do colégio.
Fomos recebidos com a mais manifesta má vontade e prevenção pelo magistério campista. Os professores eram quase todos maçons e a situação se agravava pela circunstância de ter o colégio muitos discípulos campistas. Os professores examinaram os jovens “de plano”: perguntas capciosas ou de algibeira, como se dizia antigamente. Foi um fracasso tão grande que um dos mais famosos advogados e jornalistas da cidade, Dr. Ferreira Landim, manteve, pelo Monitor campista, acesa polêmica com a direção do Liceu, acusando a banca de facciosa. Tristeza imensa pelo elevado número de reprovações. Dos concludentes do ginásio, entre mais de cem candidatos, incluídos alunos de colégios famosos da Zona da Mata, apenas três lograram aprovação em todas as matérias: Francisco de Assis Menescal, Tristão da Cunha e eu, todos anchietanos. Um cearense, um gaúcho e um capixaba. Foi uma verdadeira maratona. Quem fez mais vantagem foi o gaúcho Tristão porque, por ser quartanista, só deveria prestar oito exames, mas resolveu fazer os doze e logrou ser aprovado em todas as cadeiras; foi uma revelação de talento. Ótimo colega e amigo meu. Matriculou-se na Escola de Medicina de Porto Alegre. Tinha vocação literária e manteve comigo correspondência semanal, mandando-me belíssimos ensaios cheios de realismo e poesia. Pelo meado do segundo ano a correspondência, já um tanto mórbida, cessou de repente. Tempos depois recebi de sua mãe a trágica notícia: Tristão, contrariado em seus amores, disparara, num pôr-do-sol gaúcho, sua arma contra o coração!
Menescal e eu cursamos Engenharia.
Guardo recordações românticas e infindáveis do Colégio Anchieta. As aulas, as lições, as missas festivas, com cânticos e incenso, as festas teatrais, os concertos, os passeios. As procissões, deslizando sobre tapetes policrômicos desenhados pelo padre Prosperi e construídos por nós, nas áreas dos recreios, a expectativa de conclusão do curso…
É com saudade infinita que recordo minha reclusão. As festas religiosas, sempre com missa cantada e banquete puxado a sangria. À noite concerto no teatro com assistência dos familiares e pessoas gradas da cidade. As festas de fim de ano, no dia 8 de dezembro, em que se recebia o boletim e as condecorações ganhas em concursos. Os alunos condecorados com três medalhas recebiam coroas e ficavam sentados no palco. Durante o ano letivo havia três concursos; os que conseguissem grau dez recebiam o posto de “general” e uma medalha. No concurso final, quem mantivesse o posto recebia o título de “príncipe perpétuo” e uma medalha de prata apensa a uma fita branca e vermelha. As condecorações comuns pendiam de fita verde e amarela, as de Religião, de fita azul e branca. O aluno mais invejado no meu tempo foi o 17, cearense notável, José da Frota Gentil. Era sempre “príncipe perpétuo” em todas as matérias. Professou e tornou-se um jesuíta notável pelo saber e pela piedade.
Eu dava um jeito de ser condecorado todos os anos e mantive o principado em Geografia durante os anos do curso. Minha mãe tomava as medalhas e as coroas de louro para mostrá-las às comadres, que morriam de inveja.
Deixo as reminiscências do Colégio Anchieta para trás, porque, se fosse rememorar todos os acontecimentos, precisaria de mil páginas. Os passeios às quintas-feiras, pela cidade, à Caixa d’Água, às Duas Pedras, ao pasto do Braga, a Conselheiro Paulino; os dribles que os padres acompanhantes nos obrigavam a dar, quando encontrávamos as meninas do Colégio das Doroteias, despertavam muitos incidentes burlescos. Uma ou duas vezes por ano saíamos para excursões maiores, de trem especial, para os Monnerat, os Lemgruber, ou para a fazenda do Gavião, habitada por uma filha do Conde de Nova Friburgo. Em Cordeiro demos um recital de música para o público da cidade. Acontece que nos misturamos com o povo e dentro dele flutuavam meninas e moças. Bem que tivemos uns flertes, mas com certa discrição. Mas o diabo foi quando tomamos o trem. As flertadas perderam a cerimônia e foram se despedir. Muitos, inclusive eu, estenderam as mãos em despedida, e as moças não nos deixavam recolhê-las. Houve um que desceu e abraçou, por sinal, uma linda menina, duns quinze anos presumíveis. Padre Leme, um dos vigilantes, trilou o apito e, como de praxe, nós nos calamos. Mas as moças continuaram a nos dizer gracejos gostosos. Ah! Quando chegamos ao colégio as paredes foram poucas para se cumprirem as penas, em pé, mão no rosto, voltados para o muro. A turma dos maiores, à qual eu pertencia, ficou quase toda de castigo durante uma hora. Eu, que havia ganhado uma perpétua, me mantive com uma das mãos a cobrir o rosto e a outra no bolso segurando a flor.
Ninguém se julgou injustiçado pelo castigo.
[DERENZI, Luiz Serafim. Caminhos percorridos — Memórias inacabadas. Reprodução autorizada pela família Avancini Derenzi.]
———
© 2001 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.
———
Luiz Serafim Derenzi nasceu em Vitória a 20/3/1898 e faleceu no Rio a 29/4/1977. Formado em Engenharia Civil, participou de muitos projetos importantes nessa área em nosso Estado e fora dele. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)
